 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 9 • noviembre 2002 • página 21
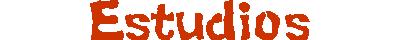
Ou como evitar as linhas retas para andar direito
«O judicioso e sábio rei Jacques I mandava ferver ainda vivas as mulheres dessa espécie (bruxas), provava o caldo e, pelo gosto, dizia:
'É feiticeira', ou: 'Não é feiticeira'.»
(Victor Hugo, Os trabalhadores do mar).
«A verdadeira oposição social elementar deve ser buscada no interior de cada indivíduo social, sempre que ele hesite entre adotar ou rejeitar um modelo novo que se lhe oferece, uma nova maneira de falar, um novo rito, uma nova idéia, uma novo estilo de arte, uma nova conduta. Essa hesitação, essa pequena batalha interna, que se reproduz aos milhões de exemplares a cada momento da vida de um povo, é a oposição infinitesimal e infinitamente fecunda da história; ela introduz na sociologia uma revolução silente e profunda.»
Gabriel Tarde (As leis sociais, 1893)
Parte I
De como o turista consegue partir em viagem, dividido entre os seus intestinos e o seu paladar
O humorista filósofo, ou filósofo humorista, Luis Fernando Veríssimo expõe numa de suas crônicas o drama interior que dilacera o turista: enquanto o seu paladar, aventureiro, quer viajar em busca de novos sabores, os seus intestinos, sedentários, querem permanecer em casa, digerindo a mesma dieta. Eis o conflito que, se resolvido em proveito excludente de um lado ou de outro, além de eliminar o outro –a parte que teria perdido a contenda– elimina ipso facto a própria pessoa do turista: não há como viajar desacompanhado de ambos.
Assim, a pessoa do turista, para se exercitar no desafio prazeroso e arriscado de ser turista, precisa necessariamente de seu conflito, da mesma forma como a noite precisa do dia, Deus do Diabo e o branco do preto, já que o turista, que preza a si mesmo, não quer desapontar as razões convincentes de seu paladar nem as razões legítimas de seus intestinos. Ele as acolhe em si como um pai ao filho, como expressão de si mesmo, outros modos de ser si mesmo, da complexidade da pessoa que ele é. Partes conflitantes, é verdade, mas é nelas e graças a elas que ele se reconhece. A despeito das aparências, que podem dissimular cólicas nos intestinos por mudança na dieta, ou protestos do paladar por não suportarem mais comer a mesma coisa, há momentos em que se tem a impressão de que o turista será partido ao meio, paladar de um lado e intestinos de outro, e a sua unidade esfacelada, tamanha é a tensão do drama em seu clímax, ponto de ruptura, proclamação da independência, ou revolução, em casos extremos.
Se ele se decide, enfim, viajar, não é porque consegue atenuar ou conciliar os interesses conflitantes, como se acredita, equivocadamente, a propósito dos pactos políticos ou dos desentendimentos entre casais. Longe disso. Pois as partes conflitantes seguem junto, ainda mais teimosas que antes na sua oposição: os intestinos ainda mais temerosos de novas experiências gastronômicas, e o paladar ainda mais desejoso de provar novos sabores. Se a pessoa do turista se dispõe a viajar, é por motivo inverso: é a exacerbação do conflito, no transbordar da crise, que o estimula a partir. E se ele embarca inteiro, paladar e intestinos juntos –sistemas racionais logicamente opostos entre si– é porque consegue enlaçá-los na solidariedade que os une –ele próprio, o sujeito, que não é intestino, isoladamente, nem paladar, isoladamente, mas ele mesmo, que é também um outro de si mesmo quando acolhe em si, isoladamente, as razões de seu paladar, e as razões opostas de seus intestinos. Assim, pode dizer-se, com igual pertinência, que tanto o turista é a expressão solidária de suas partes correlatas em conflito, quanto o conflito entre as suas partes correlatas, ou interfaces, é a expressão solidária do turista.
Além de humorista, é preciso ser filósofo, o que no fundo é a mesma coisa –um ativista geralmente mal-sucedido na prática de remoção de emplastros mentais–, para reconstruir de forma complexa o drama interior do turista, que não se dissocia do drama inteiro do Pensamento, em toda a sua história ocidental, da Grécia antiga aos dias de hoje. Pois essa história não é outra senão a da dificuldade –da obstrução ideológica– de se assumir, num mesmo espaço de possibilidades, a diversidade e a unidade, o conflito e a solidariedade. Cimentar nos alunos essa obstrução é parte essencial de seu desaprendizado formal no sistema público e privado de ensino. Ou, então, como explicar o sucesso retórico da cibernética e das ciências da computação, que vivem de assegurar que tudo no universo pode ser dividido ao meio, Zero de um lado e Um do outro? Ou que o espaço da política internacional possa ser dividido, como querem os EUA, em terroristas e não terroristas?
Como se sabe, a história da parceria entre o conflito e a solidariedade, recalcada como obscurantista desde o início da idade moderna, teria começado com o filósofo Heráclito, «o obscuro», como se tornou conhecido, aquele do rio de águas que não banham duas vezes o mesmo banhista. Na verdade, ele somente parece obscuro a quem é obscuro em relação a ele. Heráclito, na filosofia, retomando o que Homero fizera antes na poesia, ainda semi-embebida no mito, foi o primeiro a advertir de que não se podem separar os opostos na sua unidade, sob o risco de se perder o sujeito, o sujeito da história, o turista de Veríssimo.
Na sua Odisséia, Homero ilustra a mesma idéia de mil maneiras. Assim, por exemplo, no episódio de Odisseu na ilha de Ogigia, ele faz seu herói dizer, a um só tempo, não a Calipso, a mais linda das deusas que o queria entre seus lençóis, e sim à Penélope, a esposa que o esperava em casa desde a sua partida para a guerra de Tróia. Sim e não, opostos entre si, unidos porém na unidade da pessoa de Odisseu, suporte e referência dessa oposição –eis para o que nos chama atenção Homero. Da mesma forma, Odisseu faz-se atar com cordas no mastro da nau por seus marinheiros, para não ceder à sedução das sereias, dizendo a elas e a si próprio não, o que se traduzia, no mesmo gesto, em sim, para Penélope, sempre à sua espera. É de imaginar que o desejo de retornar a Penélope intensificava-se tanto mais quanto mais o premia a sedução das sereias, de modo que, se se pudesse eliminar o conflito, Odisseu não encontraria estímulos para resistir à sedução das sereias nem para ansiar pelo retorno à casa. O conflito, sob o enlace da solidariedade, é o gatilho da espingarda de cano duplo que dispara a mudança, no caso, a decisão de dizer não às sereias e sim a Penélope.
Depois de Homero e Heráclito e antes de Veríssimo, Machado de Assis deteve-se em sua ficção a lucubrar sobre o mesmo tema. É o que leio em sua novela «Esaú e Jacó», ambientada no Rio de Janeiro no período de transição do Império para a República. Santos, o protagonista, é ao mesmo tempo barão e banqueiro, papéis opostos entre si, que se digladiam sob uma mesma pele: enquanto o banqueiro quer que a República venha, o barão não quer que o Império se vá. O barão não quer a República, porque esta não lhe reconhece a aristocracia, como símbolo de prestígio, status e poder; o banqueiro não quer o Império, porque este não lhe reconhece o dinheiro, como símbolo de prestígio, status e poder. Longe de eliminar o conflito entre seus papéis, Santos o exacerba, para dele tirar proveito na solidariedade (ele) que os une. Como o exacerba? Exercitando-se, alternada e reciprocamente, no papel de barão e no papel de banqueiro. Assim, por exemplo, ao assumir perante si mesmo, como banqueiro, o papel de barão, ele enxerga melhor os rumos do Império; e ao acolher perante si mesmo, como barão, o papel de banqueiro, ele enxerga melhor os rumos da República. Como o eventual advento da estabilidade na mudança em uma ou outra direção lhe seria favorável, Santos oportunista tem os seus pares de sim e não preparados para ambas as eventualidades.
Já um outro personagem de Machado, de vocação sacerdotal e messiânica, caiu na ilusão de que é possível remover o conflito –e assim removeu de si mesmo, no mesmo gesto, a solidariedade. É Simão Bacamarte, o médico cientista, protagonista tragicômico de seu conto «O alienista». Bacamarte, com sua autoridade apoiada em diplomas de doutor obtidos nas melhores universidades de Portugal e Espanha, instala-se na vila de Itaguaí e se põe a separar os seus habitantes em dois grupos, os loucos e os sãos. Iluminado pela fé na sua racionalidade científica, na certeza absoluta do conhecimento, que separa a verdade do erro, acreditava que conseguiria divisar com precisão a linha que separaria a razão da loucura. Como, porém, há sempre alguma pitada de loucura na razão e de razão na loucura, Bacamarte acaba por querer trancafiar a todos no hospício –e somente não completa a tarefa porque, antes disso, trancafia-se a si mesmo, de espontânea vontade, no manicômio que criara. A tragicomédia de Bacamarte expressa a ilusão de que os opostos podem ser separados da unidade que os une.
Disso não se deram conta também as feministas nos primórdios de seu movimento. É o que pode observar-se num episódio recente ocorrido nos Estados Unidos. As marinheiras norte-americanas, que a esse papel chegaram na coroação da luta feminista pela igualdade de direitos no trabalho, uma vez embarcadas no projeto de novos submarinos recusaram-se, no tratamento recebido do almirantado, a serem iguais aos marinheiros, depois de estes terem apoiado democraticamente, em nome da igualdade, a remoção da discriminação contra a mulher no trabalho. Postados diante de sua igualdade, agora reconhecida, ambos os sexos, com exceção dos almirantes, dão-se conta de suas diferenças, que é preciso respeitar.
A história é a seguinte: o projeto de novos submarinos não reserva espaço suficiente para a construção de dependências sanitárias distintas para homem e para mulher, em razão de na sua distribuição ter-se dado prioridade ao armamento. Com tantos mísseis igualitários a bordo, pouco espaço restou para acomodar as diferenças. Dando-se conta do engodo, agora elas batem o pé perante o almirantado, exigindo em nome da privacidade (diversidade) banheiros exclusivamente femininos, enquanto os marinheiros, em defesa de si mesmos, na afirmação de sua respectiva diversidade, tratam de apoiá-las, sob o argumento de que homem nenhum é de ferro: os iguais, apoiando-se reciprocamente na afirmação de suas diferenças. Em resposta, o almirantado diz que não se podem confundir as lidas da guerra com as coisas do amor. Se vence o amor, perde-se a guerra.
De fato, o amor não combina com toda dialética de opostos que suprime a sua unidade. No início de seu conto, Machado introduz o problema de Bacamarte, antes que este se ponha a separar a razão da loucura, como um conflito entre a racionalidade científica e o amor. A ciência do erro e da verdade mutuamente excludentes não convive em paz com as manifestações da vida. Se vence a objetividade da ciência sem sujeito (a das partes sem conflito), falece o amor. Assim é que Simão Bacamarte renuncia ao amor de Dona Evarista no casamento, levado por suas convicções científicas. É ele quem o diz: nela interessavam-lhe apenas as suas prendas fisiológicas e anatômicas, intestinos que digerissem com facilidade, uma cabeça que dormisse regularmente, um bom pulso, uma excelente vista e aptidão para lhe dar filhos robustos, sãos e inteligentes. E se Dona Evarista não era bem composta de feições, tanto melhor, pois assim «não preteriria os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte».
Atente o leitor desaprendiz para o seguinte: se diante do objeto sobre o qual debruça a sua atenção não reconhecer nele ao mesmo tempo o conflito e a solidariedade, desconfie de que está diante da própria abstração que construiu, e não diante da realidade que tem à sua frente, uma abstração que o obriga a optar entre a luz e as trevas, sem direito à escolha do lusco-fusco. É o que ocorre ao presidente George W. Bush, por exemplo, quando diz que «Quem não está com os Estados Unidos está com os terroristas», como se a realidade fosse naturalmente dicotômica. Dicotômica é a abstração, que separa vencedor e perdedor, sem se dar conta de que na realidade ambos os papéis podem ter como suporte e referência uma mesma pessoa, um mesmo mundo humano. Razão teve no episódio a diplomacia brasileira ao afirmar, discretamente é verdade, que o Brasil não estava nem com Bush nem com os terroristas. E razão teve também Odisseu, que não abdicou de realizar o desejo de se comprazer na existência: em vez de optar entre o prêmio e o castigo, elegeu como disjuntivas prazerosas e arriscadas de sua alternativa a Calipso e Penélope, colocando assim tanto o bem quanto o mal de cada um dos lados, para evitar que na sua oposição dicotômica se eliminassem um ao outro.
Assim procedendo, Odisseu estava convencido de que na realidade não existe situação sem saída. Situações do tipo «ganhar ou perder» existem somente no plano do jogo, que é o plano da abstração. Já no plano da realidade, o problema inverte-se, como se observa no episódio das sereias: difícil é escolher entre as muitas saídas que se podem divisar. Enxergar a diferença entre um plano e outro, para dela tirar proveito, é ser capaz de se reconhecer no contexto, no «aqui e agora». Contextualizar os problemas é uma arte que, infelizmente, não se aprende na escola. Por isso, este livro pode ser considerado como uma introdução aos princípios da contextualidade, e é dirigido a quem está interessado em reconhecer o caráter contextual da existência, para nela se comprazer, com risco porém.
A alegoria de Homero e a de Veríssimo divergem no essencial. Na perspectiva do paladar ou dos intestinos, o turista teria como palco, para o exercício de sua liberdade de decidir, um único espaço polarizado entre um sim e um não excludentes. Se diz sim às razões de seus intestinos, remove de sua pessoa o paladar, ao dizer-lhe não, e vice-versa. Desfaz-se, assim, a unidade de sua pessoa. Uma decisão salomônica, que foge do problema, ao sacrificá-lo, em vez de resolvê-lo. Já a liberdade de decidir de Odisseu deve exercer-se na encruzilhada entre dois contextos sobrepostos e interdependentes –o de Calipso e o de Penélope–, situação que configura uma oposição de caráter includente, o que significa dizer que, qualquer que seja a sua opção, mantém-se íntegra a unidade de sua pessoa. Em resumo: as partes opostas, na ausência da pessoa, são excludentes; na presença dela, são includentes. A liberdade, assim como entendida pelo paladar ou pelos intestinos, isoladamente, é abstrata, porque prescinde do contexto do turista, enquanto a liberdade da pessoa de Odisseu é contextual, porque inclui a sua pessoa no espaço da oposição entre Calipso e Penélope. Sentir-se livre não é sentir-se coagido a optar entre pólos de um único par de opostos excludentes (paladar ou intestinos), e sim escolher entre pares de opostos includentes (sim ou não a Calipso E sim ou não a Penélope). Includentes porque, qualquer que seja a sua opção, Odisseu mantém-se inteiro. A opção por Penélope ou por Calipso não o racha ao meio. Nesse 'E', que liga ambos os contextos de Odisseu e que se convertem em um só graças à unidade de sua pessoa –'E' que escrevi com letra maiúscula para chamar a atenção do leitor–, é que reside a diferença abissal entre um tipo de liberdade e outra. Ou seja, a liberdade, da qual não se pode abdicar, pelo desejo de se comprazer na existência, exerce-se na opção entre contextos equivalentes nos quais se deseja viver. Liberdade é a faculdade de escolher o contexto, e não a faculdade de decidir entre o sim e o não fora do contexto da pessoa. Exemplo: para alguém, ser arquiteto é desempenhar um dos muitos papéis possíveis na sua vida. A decisão entre ser e não ser arquiteto exerce-se como liberdade de opção (da pessoa associada a seus papéis) entre contextos. Não implica optar entre existir e não existir como alguém.
Desconfiado de quem, auto-iludido pela abstração que construiu, pretende que o mundo esteja ordenado segundo um par de opostos excludentes, Machado de Assis rejeitou em sua ficção a idéia de um Deus único, criado à semelhança de um George W. Bush, a ordenar na sua auto-suficiência o mundo de cima abaixo. Em um de seus contos sobre a parceria entre Deus e o Diabo na construção de uma opereta, o autor de Quincas Borba corrige o mito bíblico da Criação, afirmando que o mundo não teve começo, para se evitar a disputa excludente entre Deus e o Diabo pela primazia na paternidade da idéia. Como Veríssimo, Machado percebeu o risco na idéia de se fixarem hierarquias entre os papéis, fazendo prevalecer a vontade dos intestinos sobre o paladar ou vice-versa. Ou seja, ambos os autores, mais Deus e o Diabo, mais Heráclito, mais Homero e tantos outros enxergaram na pretensão de um Deus sádico, narcisista e prepotente o risco metafórico de se introduzir o poder possessivo no mundo humano, como réplica caricata do poder divino.
Segundo a alegoria de Machado, a emergência da Criação dá-se no transcorrer de um jogo, no qual os contendores, Deus e o Diabo, iguais e diferentes entre si, se entretêm. De que jogo se trata? Do jogo de remover as regras que eles próprios se dão, pelo prazer de criar outras. Assim, remove-se a fixidez das hierarquias entre os papéis, com a vantagem de poderem ambos se comprazer na exploração da diversidade dos pontos de vista, pois o jogo nunca é o mesmo. Dependendo do contexto, mudam tanto as suas regras quanto a posição dos parceiros, quanto o tabuleiro. Divertem-se, desse modo –ao mesmo tempo que estimulam reciprocamente a sua criatividade– , no jogo de criar mundos diferentes, novos modos de perceber o mesmo mundo, para evitar o aborrecimento da eternidade.
Infere-se daí que a obsessão da mesmidade, o desespero da monotonia, o ódio puritano a si mesmo, o delírio e a violência contra outrem, que a ficção bíblica do monoteísmo estimula, é fruto mosaico do poder hierárquico, impotente e imobilizado na sua incapacidade intrínseca de estabelecer um enlace solidário com outrem, olhar com olhar, como ocorre entre os amantes, para evitar de se reconhecerem como iguais na sua diversidade. Assim procedem todos os que se deixam levar pela ilusão de poder remover o conflito, ou controlar a realidade. Esquecem-se de que quem tudo controla é a realidade, incluída a ilusão de se poder controlá-la.
Já no jogo entre Deus e o Diabo, no qual um não consegue impor-se ao outro, em razão do reconhecimento recíproco de sua interdependência, mantém-se o conflito, graças à solidariedade entre os parceiros, que se manifesta na disposição de ambos de continuarem unidos na parceria, assegurando a continuidade do prazer de jogar. Não ocorreria o mesmo no diálogo humano? Na arte? No amor? Na evolução da ciência? Não é o que se passa com Santos, dividido entre as regras do jogo do barão e as regras do jogo do banqueiro? Com o turista de Veríssimo? Com Odisseu, na sua indecisão prazerosa e arriscada entre jogar com Calipso e jogar com Penélope?
Antes, porém, de ser machadiana, parece tratar-se de uma sabedoria oriental. Pois aprendemos também com os orientais que o mundo não teve começo; é fruto do embate entre forças opostas e solidárias. Os sopros terrestres e os sopros celestes, ao se chocarem, de modo recorrente, provocam turbilhões, que geram um novo estado de mudança no mundo, este estado em que nos encontramos e que mudará outra vez por força de uma nova configuração suscitada pela ocorrência de novos turbilhões. Basta a ocorrência de uma nova idéia, para se recombinarem, de modo diferente e singular, todas as idéias que se tinha na cabeça. E nem mesmo a primeira idéia teve começo, pois ela emerge no campo da consciência como uma mudança de estado nesse campo, uma diferença.
O resultado prático e a vantagem dessa visão de mundo é que o sábio chinês desconhece o que seja um herói, um especialista, um self made man, à moda ocidental, um sujeito auto-suficiente, que se acredita capaz de crescer à força de puxar para cima os próprios cabelos e dobrar o mundo à sua vontade –controlar a realidade. Da mesma forma, desconhece o equívoco simétrico –a passividade do ser humano, que se deixaria manipular, como uma marionete, seja pelos seus intestinos seja pelo seu paladar. Enquanto o herói ocidental, à moda de Dom Quixote, levanta-se contra seus moinhos de vento, para se fazer notar, o sábio chinês mantém-se discretamente atento ao entrechoque dos turbilhões, na expectativa de divisar o momento favorável que lhe permita reinstalar-se no novo estado de mudança do contexto, para tirar proveito da sincronia que assim se estabelece, como o faz o surfista diante das ondas do mar. Assim como o surfista não se enxerga como um Deus, capaz de converter o mar em geleia, em proveito de sua imperícia e desgraça de sua destreza, também o sábio chinês, por não se enxergar como um Deus, capaz de separar a luz das trevas, instala-se no lusco-fusco à espreita de um estímulo do contexto, por definição em estado de mudança, que o induza a responder ao desafio.
O herói ocidental, o líder auto-proclamado, tem por vocação remover o conflito, rachar as águas do mar ao meio, para que seus liderados o atravessem sem molhar os pés, como o fez Moisés, ou parar o sol, para fazer a vitória pender para o lado do povo eleito antes do anoitecer, como o fez Josué na batalha de Jericó. Eis o fundo judeu-cristão do imaginário ocidental, que irá inspirar o individualismo liberal e a sua álgebra de Boole. Quando se converter em cientista, na idade moderna, a mesma figura mitológica, dotada de poderes demiúrgicos, criará a Física, com a sua lei da ação e da reação, das forças iguais e contrárias, a lei dos corpos que não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, &c. Criará depois, na Revolução Francesa, a guilhotina, para separar a Razão das paixões. Decapitará o rei, que encarnava o poder divino, para distribuí-lo em migalhas aos súditos, agora transformados em cidadãos, estilhaços do poder divino, divididos ao meio no seu ressentimento, por não serem rei nem Deus. Auto-iludidos diante da facilidade com que assim se poderia controlar a realidade, os novos cidadãos cuidarão de zelar pela afirmação do caráter universal de tais abstrações, estendendo a legitimidade de sua aplicação a todo o universo, ignorantes de que paladar e intestinos, forças iguais e contrárias, além de ocuparem o mesmo espaço, na pessoa do turista, não se equilibram nem se eliminam uma à outra. A prova é que o turista parte em viagem.
Diferentemente dos ocidentais brancos, judeus e cristãos, os orientais jamais conheceram um Deus de barbas longas, a conferir a mesma potência de seu poder transcendente e soberano às coisas, como o fez Newton, num supremo gesto de rendição da inteligência humana à própria obra, impedindo-a assim de voltar a criar. A realidade primordial da cosmovisão chinesa não é uma coisa, e sim um estado de conflito entre sopros celestes e sopros terrestres, solidários na recorrência de seu entrechoque. Não sugere isso que Norbert Wiener, da cibernética, o médico Guilhotin e Boole se tenham deixado levar pelas implicações do monoteísmo, matriz do poder hierárquico?
O momento da sujeição do destino humano à lei da coisa, que o submete tanto quanto a lei da gravidade obriga a maçã a cair do galho, pode associar-se a qualquer instante alienado da existência, à alienação promovida pelo capitalismo ou à alienação de toda hora. Historicamente, o seu marco inaugural teria sido o Neolítico, período que deu início à civilização sedentária, hierárquica e letrada. Ou, então, teria sido o advento do monoteísmo, ou de um dos filhos diletos de sua moral do dever-ser, o puritanismo. O certo é que a prevalência da lei da coisa –dos intestinos ou do paladar sobrepondo-se soberanamente à vontade da pessoa do turista– é indissociável de uma ontologia (teoria do ser) ou de um Padre Eterno, que se teria antecipado ao ato criador, ao privar o Diabo e o ser humano do prazer de desenhar o seu destino a gosto –em contexto.
É desse modo que enxergam o mundo os olhos do artista. A arte é também um jogo de criar regras, novos modos de se enxergar e sentir o mundo. A realidade que se exibe ao olhar do artista apresenta-se como uma diferença em relação à realidade costumeira, enxergada pelos olhos do hábito. Uma nova obra de arte é uma nova maneira de se conceber e sentir a realidade, que enriquece a percepção que dela se tinha. Enriquece tanto em razão da continuidade com a visão anterior ao seu advento quanto em razão de sua descontinuidade em relação às obras anteriores, introduzida pela proposta de uma nova visão. Continuidade e descontinuidade, disputando um mesmo espaço conflitante e solidário de possibilidades, é o que caracteriza a tensão dramática entre o paladar e os intestinos. Se se remover uma ou outra, suspende-se o drama, o prazer e o risco, e perde-se o turista.
O mesmo ocorre quando do advento de toda inovação. Ao contrário do que supõe a linguagem binária da cibernética, toda inovação é percebida no espaço unitário que compreende ao mesmo tempo o seu lado novo, ou estranho, e o seu lado familiar. Não existe a possibilidade de se reconhecer algo que seja absolutamente estranho. O objeto da percepção é, por definição, diferencial. O novo somente é percebido como novo sobre o pano de fundo contínuo do que não é novo; do contrário não se saberia dizer em que consiste a novidade, a diferença. Assim, por exemplo, para se fazer reconhecer como nova religião, o cristianismo teve de se apresentar –no seu ritual, na sua liturgia, nos objetos de seu culto– revestido de símbolos, gestos e representações do paganismo, para que os pagãos pudessem reconhecê-lo, primeiro como religião, e depois como nova religião. É o mesmo que dizer que a percepção, para se dar conta de que reconheceu algo de novo, precisa incidir sobre um espaço unitário de possibilidades, como é o do turista, que se caracteriza pelo conflito e pela solidariedade entre a continuidade e a descontinuidade. Ocorre descontinuidade quando o paladar pretende instituir, na afirmação excludente de suas reivindicações perante o turista, a sua oposição lógica (sim ou não) à afirmação igualmente excludente dos intestinos. Ocorre continuidade quando o turista acolhe em si, como um outro de si mesmo, na solidariedade que promove entre os pólos da tensão, tanto os argumentos do paladar contra os intestinos, quanto os argumentos dos intestinos contra o paladar.
Observe o leitor o contraste entre o caráter abstrato, lógico (sim ou não) da pretensa auto-suficiência dos argumentos do paladar e dos intestinos e o caráter não-lógico do comportamento do turista –não-lógico, porém real, pois a despeito da tensão assim criada, ou graças a ela, ele vai partir em viagem. Aos olhos de cada uma de suas partes, consideradas isoladamente, o turista é uma contradição consigo mesmo. É dela, no entanto, ou seja, da unidade de sua pessoa, que ele retira estímulos para se comprazer na existência. Lógico: princípio de identidade (A = A); não-lógico: princípio de equivalência.
Na história das instituições políticas não é o princípio de identidade que prevalece, isoladamente. Nela enxerga-se em ação mais facilmente o princípio da equivalência. É o que se observa, por exemplo, na transição da monarquia absoluta para o Estado moderno. «Os privilégios senhoriais dos proprietários de terra e das cidades transformaram-se em atribuições do poder público, converteram-se os dignatários feudais em funcionários assalariados, e com a emaranhada carta de direitos medievais contraditórios se fez pensar no plano dirigido por um poder supremo cujo trabalho está dividido e centralizado como o de uma fábrica. A primeira Revolução Francesa, que tinha a tarefa de destruir todos os poderes independentes –locais, territoriais, comunais ou provinciais– com a finalidade de criar a unidade civil da nação, não podia desenvolver mais que o que a monarquia absoluta havia iniciado: a centralização, porém, ao mesmo tempo, a expansão das atribuições e dos serviços, das manobras do poder governamental» (Marx, O 18 Brumário de Luis Bonaparte). A história é metamorfose (processo), não passo marcial: a exemplo de um gesto humano, transgride pela repetição e repete pela transgressão (continuidade e descontinuidade a um só tempo).
Na literatura brasileira, um dos momentos sublimes da metamorfose fantástica encontra-se no conto «Meu Tio o Iauaretê», de Guimarães Rosa, escrito antes de «Grande Sertão: Veredas». O caçador, um caboclo pago por um fazendeiro para matar onças e que a princípio cumpre sua tarefa sem nenhum problema, vai entrando imperceptivelmente na aura de suas vítimas, que exercem sobre ele um fascínio tal que não apenas se arrepende dos seus «crimes» e deixa de matá-las, mas também passa a conviver com elas e acredita que o adotaram. Enquanto o caçador se animaliza, as onças vão se humanizando.
Algo semelhante ocorre com toda gente, com meu amigo Jorge, por exemplo, que, em vez de onça (no lugar de um outro de si mesmo), tem seus papéis: é pai, médico, amante, tenista, gastrônomo, vizinho, motorista, entre outros, todos conflitantes entre si, os quais desempenha pelo prazer de fazê-lo, sem deixar de ser ele mesmo. Jorge desempenha cada um de seus papéis de acordo com o seu (deles) sistema próprio de regras, que os caracteriza. Essas regras opõem-se umas às outras, nos seus respectivos sistemas racionais. Assim, por exemplo, o desejo de Jorge de estar na quadra de tênis opõe-se ao desejo de estar no consultório; e os respectivos sistemas de regras não se confundem entre si, a ponto de Jorge embaralhar as regras da gastronomia com as regras de trânsito. Esses sistemas racionais e lógicos são, pois, de acordo com o princípio de identidade, incompatíveis entre si, ao mesmo tempo em que Jorge os compatibiliza na unidade, de caráter equivalente, de sua pessoa. Jorge é um sujeito lógico e não-lógico, que respeita e não respeita as regras que se dá, a um só tempo. Não por inconseqüência ou irresponsabilidade, ao contrário. Pode ocorrer que seus cuidados médicos sejam convocados na quadra de tênis, assim como pode ocorrer-lhe tirar proveito da exercitação de seus reflexos como tenista nos momentos em que é motorista. Existe, assim, continuidade e descontinuidade entre Jorge e seus papéis. Se se remover, por hipótese absurda, porém real na ciência, a pessoa de Jorge de seus papéis, ter-se-ão somente descontinuidades –e é a isso que corresponde a noção de indivíduo, ou cidadão, no liberalismo, ou a noção de função em matemática, noção que está na origem da ciência funcionalista, a da estrutura e das funções, ou da ciência sem cabeça.
A se julgar pelas implicações da ciência funcionalista, que contaminou com sua pestilência fragmentária o conjunto das ciências humanas, não se poderia jamais reconhecer a evolução da personalidade de Jorge, que tira proveito de sua interação com seus papéis, mudando em conseqüência a si mesmo e as suas «funções», da mesma forma como não seria possível explicar a transição do Império para a República. Assumindo os papéis de barão e banqueiro como meramente funcionais –ou seja, descontínuos–, eliminando-se a possibilidade de se entrecruzarem no conflito, que tem como suporte o espaço comum da política, estaríamos até hoje contemplando as trajetórias paralelas, retilíneas e contíguas de ambos os regimes políticos, sem a possibilidade de transição de um regime para outro. O que a história mostrou, no entanto, é que a solidariedade que enlaçava o conflito, exacerbando a tensão da transição, somente a tornou possível porque barão e banqueiro (na época, a voz do povo não se fez ouvir), em vez de se tocarem apenas na sua contiguidade, contagiaram-se na sua interação, graças à mediação da pessoa de Santos.
Explico como teria ocorrido o contágio. Ao contrário do que dizem os manuais escolares, não é verdade que o advento da República levou para o museu todos os atributos associados ao papel do barão, já que em seu lugar pontificaria agora o banqueiro. Pois, antes que o barão lá fosse atirado, com as suas vestes rendadas e os expoentes de valor (símbolos) a elas associados, que agora supostamente de nada lhe serviriam, o banqueiro Santos retirou-lhe o prestígio, o status e o poder que elas encarnavam, para juntar a seu dinheiro e, assim poder mandar na República. Tem-se, assim, não a eliminação pura e simples de um papel pelo outro, mas, graças à mediação da pessoa de Santos, uma nova distribuição e recombinação dos mesmos suportes de valor, agora associados a novos expoentes, de acordo com uma nova referência contextual.
A pessoa de Santos é, pois, o locus do enlace, da Política do Sujeito, ou o espaço unitário de possibilidades no qual se exercitam as políticas do conceito, na sua pretensão ilusória de fazerem valer a sua auto-suficiência, assim como procedem os intestinos e o paladar no espaço unitário que caracteriza a pessoa do turista. Assumo didaticamente que a Política do Sujeito está representada aqui, quanto ao aspecto solidariedade, na pessoa do turista, e as do conceito, quanto ao aspecto conflito, em cada uma de suas partes. Trata-se de uma divisão artificial –solidariedade, de um lado, e conflito, de outro–, na realidade são indissociáveis, embora distintos. Assim, quando o liberalismo, uma abstração que se pretende auto-suficiente (única e universal), afirma apoiar-se na racionalidade somente, está tomando partido de uma parte apenas, no conjunto dos valores humanos. Toda ideologia é enganosa por ser excludente, porque assume a parte pelo todo. Assim, a ideologia dos direitos individuais é excludente, porque não contempla os direitos coletivos.
A redistribuição, segundo um critério não-dualista, dos expoentes de status, prestígio e poder entre os papéis de banqueiro e barão, leva-nos a reconhecer que os limites não são propriedade da realidade, mas das abstrações que construímos para lidar com ela. Toda delimitação de um espaço abstrato, como um papel, ou um órgão, como os intestinos, caracteriza-se por uma certa ordem, que permite distingui-lo de outro espaço. É o que ocorre também com o espaço das instituições sociais, como o conhecimento. Conhecer significa selecionar, classificar, ordenar, arrumar, construir configurações simétricas e estáveis e periodicidades. Selecionar, classificar, &c. significa impor limites a uma realidade que em si mesma é ilimitada.
Nenhuma fronteira que se desenhe na realidade, por estímulo da prática social, é propriedade intrínseca da realidade que, por definição, é indeterminada, não porém desprovida de referência –o desejo de se comprazer na existência. O recorte de um determinado conjunto pressupõe a seleção de um ou mais critérios, para se poder separar o dentro do fora, o interior do exterior. A escolha é necessariamente convencional e arbitrária. Assim, por exemplo, posso incluir a flor rosa no contexto estético das flores do jardim, ou no contexto das iguarias comestíveis, ou no contexto das matérias-primas das quais se extraem aguardente, entre outras possibilidades. A flor rosa é um mero suporte capaz de assumir variações nas suas propriedades de acordo com a variação dos contextos em que ocorre, propriedades que não lhe são intrínsecas, mas são conferidas pela referência do contexto.
Por serem convencionais, os limites podem ser questionados a qualquer momento por quem esteja convencido de poder oferecer delimitações conceituais supostamente mais aderentes à realidade como a está enxergando. Assim, por exemplo, com o advento da biotecnologia a goiaba vermelha, que era enxergada apenas como alimento –uma «função» até então isolada das demais–, converte-se agora em fonte de carotenóides, de ação eficaz no seqüestro de radicais livres. E assim, remove-se –com a redistribuição dos expoentes de valor, apostos sobre as suas interfaces, entre os usos que nela se divisam–, o biombo até então existente entre a cozinha e a farmácia.
Então, o que é a goiaba? Ou o que é ser banqueiro? Ou o que é dinheiro? Não se pergunte o que é. Impossível de responder antes de e reconhecer a referência do contexto no qual interagem, referência que nos dá a chave explicativa de como se comportam de modo singular em cada contexto. Com certeza, o papel do banqueiro Santos do Império não se comportava como o papel do banqueiro Santos da República. A coisa em si mesma não se sabe o que é, pois ninguém nunca se defrontou com ela: ao incidir no contexto humano, ou seja, ao se deixar impregnar de algum valor, ela deixa de ser coisa, limitada por definição, para se contagiar do humano, que é ilimitado na sua capacidade de fazer variar, redistribuir e recombinar expoentes de valor sobre esse mero suporte não-categorial, dando origem a infinitos contextos. Assim, a coisa, ou o fato, deixa de ser o «si mesmo», supostamente dotado de limites intrínsecos e fixos, para se tornar a contraface mutante do desejo, testemunha de mil intenções conflitantes entre si, que atestarão o que se pretende fazer dela na variação infinita dos contextos, de acordo com a variação de sua referência. A figura do banqueiro de hoje, que continua mandando na Nova República, diferentemente de como o fazia na República Velha, não passava de uma função politicamente subordinada e desprezível em termos de status e prestígio, no contexto da civilização islâmica. Eis o papel de banqueiro delimitado diferentemente em três contextos: ao estímulo de cada um deles responde de modo diferente e, como resultado singular de suas interações com os demais componentes do contexto, induzirá à geração pelo contexto de estímulos diferentes. E um sapato com barro colado à sua sola é enxergado como adequado no contexto do jardim e inadequado no contexto da sala de visita. Se, no empenho de se enxergar melhor a realidade, se separar do sapato a pessoa que o calça, remove-se o conflito e a solidariedade entre seus limites, e já não se saberá dizer como se comporta – eis o objeto científico da ciência sem cabeça. Assumimos aqui, com tantos outros, que fato e valor, diferentemente do que pretendia Émile Durkheim, não se dissociam, embora sejam distintos. Coisas opõem-se a coisas, na sua relação excludente; valor opõe-se a valor, na sua interação includente. E o caráter includente vem de o valor não se dissociar do ser humano, ao passo que a coisa define-se pelos seus atributos de exterioridade e coerção.
Se Machado de Assis preferiu colocar Deus e o Diabo juntos no ato da Criação, é porque estava convencido de que um único Criador estabeleceria os limites de uma vez por todas, um lugar para cada coisa e uma coisa para cada lugar, deixando o ser humano desencantado, de mãos abanando, sem saber o que fazer de sua liberdade e sem poder exercitar a sua criatividade. Um único Criador oferece uma existência sem risco, mas desprovida de prazer e encantamento, enquanto o que buscamos é prazer no encantamento, ainda que ao preço do risco. Não há prazer ou necessidade de esforço moral algum em se optar entre o Bem e o Mal, entre o prêmio e o castigo. A maçã da ciência também sabe fazê-lo, ao cair do galho dizendo sim, sem risco. Difícil, prazeroso e arriscado é optar entre coisas boas, pois entre o bom e o ruim não há escolha.
Observe, leitor, que é o relativo desconforto em relação ao estabelecido que estimula o cientista, por exemplo, a mexer-se em direção a uma posição mais confortável frente ao seu objeto de estudo, que em conseqüência deixa de ser o mesmo, quando o cientista passa, por exemplo, a enxergar na goiaba não apenas a fruta que alimenta, mas também a fruta dotada de vigilantes biológicos na prevenção do câncer. Qualquer ação, além da científica, tem como resultado a geração de um estímulo que, ao incidir sobre o contexto, induz à mudança nos limites. Assim, uma nova expectativa na correspondência do amor muda o estado em que se encontrava o amante, que mudará outra vez quando de sua realização. Estamos, pois, em mudança permanente de estado na construção e reconstrução prazerosa e arriscada dos limites. O espaço em que isso ocorre é o locus da auto-recorrência, da auto-referência, ou da Política do Sujeito.
* * *
Antes, porém, de concluir a conversa sobre esta parte do tema, chamo atenção para um outro aspecto, que já mencionei e sobre o qual é preciso insistir. Creio que posso apresentá-lo assim: O paladar sente mais intensamente a sua identidade de paladar, a sua própria delimitação, não quando se recolhe para dentro de si mesmo, isolando-se, como o exige o individualismo metodológico, mas, ao contrário, quando toma distância de si mesmo, ao se transferir em imaginação para o lugar dos intestinos, para sentir o que estes sentem como intestinos que são. A identidade abstrata, racional e lógica (A = A), desprovida por definição de diferença, não enxerga sequer a si mesma. Já a identidade real, a do turista inseparável de seu paladar e de seus intestinos, incorpora também a diversidade e, ao faze-lo nela se reconhece. Ao se instalar no lugar de cada uma de suas partes, o turista enxerga-se melhor na sua continuidade como um outro de si mesmo, diferentemente, reconhecendo-se assim na própria identidade, uma diferença.
Há distância também na dissipação do calor na máquina. Nenhuma máquina jamais conseguirá funcionar usando 100% da energia em operações úteis. Sempre existem estímulos de energia que não são absorvidos pelo trabalho útil. Surge, então, a dissipação, o excesso, o trasbordamento, a «parte maldita», de que fala Georges Bataille (1967). A dissipação, que a distância explicita, seria a mais autêntica imagem da existência. O problema prazeroso e arriscado da existência estaria no excesso de recursos disponíveis, e não na sua falta. A vida em si mesma é um derramamento gratuito e perdulário, que preenche tudo, das fossas abissais oceânicas ao mais alto das rochas, sobre cuja superfície o musgo avança para mais longe ao alcançar as gotículas de vapor d' água que o vento colhe nas ondas do mar. A vida aspira de todos os modos possíveis ao impossível crescimento, estendendo-se para além de si mesma. Pode ser descrita como pressão de intensidade máxima sobre o tempo e o espaço. Remova-se uma pedra centenária da soleira da porta de casa, e as sementes que sob ela dormitavam irão germinar, tantas quantas conseguirem ter acesso a um raio de sol. Se coubesse mais uma formiga no gigantesco ecossistema amazônico, lá estaria ela.
O milagre não está apenas na proeza do Homo faber a produzir utilidades, extraindo mais-valia do suor do trabalho. No butim das conquistas ultramarinas dos portugueses, por exemplo, quase não se encontram utilidades: o que ali se vê é a presença seletiva de sedas, especiarias, madeiras tintoriais (o vermelho do pau-brasil, a cor do luxo cortesão) perfumes, roupa branca, vasilhas de prata, vinho, destilados, tabaco, açúcar, candelabros –quase nada do que é indispensável ou necessário à subsistência fisiológica. Isso sugere que o caráter de valor excludente atribuído na atualidade à utilidade cumpre uma dupla função ideológica: suprime o lugar de direito ocupado na história pelo devaneio (distância) e escamoteia a sua compreensão, induzindo à suposição de que todo o espaço da existência estaria adequadamente preenchido pela figura caricata do Prometeu capitalista –o Homo faber. Invenção antropológica recente, contemporânea da Revolução Industrial, produzida pela faculdade humana de tomar distância, o Homo faber é o sujeito que se caracteriza por agir supostamente de modo racional, subordinando o tempo presente a um futuro que nunca chega, em nome do qual se sacrifica o gozo imediato.
O verdadeiro milagre está na variação temática da cultura humana, testemunha de um excesso de existência, excesso cujo investimento pressupõe uma distância na qual se elaboram os novos temas, as novas metáforas que irão permitir escandir a existência de modo diferente, equivalente, e não igual. Meu gato «Gatozé» atesta a sua capacidade de tematizar o seu mundo, dele tomando distância, ao se instalar sobre a caixa do modem da tv a cabo para se aquecer: faz do aquecimento elétrico o equivalente do calor das cinzas no borralho, multiplicando por dois a extensão de seu ideal de aconchego.
A arte disso participa, ao se apresentar como exercício de criação de novas visões de mundo, tantas quantas possíveis. Foi por um efeito equivalente de distância que a paisagem incorporou-se como objeto de contemplação estética na arte ocidental. A evocação pictórica da paisagem surge na cidade como resposta à sua ausência no contexto urbano. Como observa Taine, para os homens do século XVII, que na sua quase totalidade viviam a transição do campo para a cidade, não existia nada mais feio do que uma montanha de verdade: esta suscitava neles imagens desagradáveis, já que estariam fartos da barbárie, assim como muitos andam hoje fartos da civilização. Para estes, a contemplação das montanhas permite-lhes na distância repousar o olhar, que assim descansa de sua atenção presa na utilidade, nas atividades sobre o asfalto, na simetria do traçado das ruas e do concreto armado dos escritórios, das fábricas e dos apartamentos.
Há mais sonhos sonhados e a sonhar do que possibilidades de realizá-los. Há mais seduções na história de Odisseu e de todos nós do que possibilidades de se entregar a elas. Basta olhar para uma criança: ela brinca de mocinho, policial ou cavaleiro, expressando desse modo um excesso de possibilidades de modos de vida, dos quais apenas alguns se converterão em realidade. O mundo desaguaria na criança, e também no adulto que não perdeu o sentimento da infância, pela boca larga de um funil, mediante mil apelos, mil atrações, mil chamamentos, e destes apenas alguns obterão resposta através do bico voltado para a ação.
Quanto mais intensamente Jorge sentir o seu papel de pai no desempenho de seu papel de motorista, e quanto mais intensamente sentir o seu papel de motorista no desempenho de seu papel de pai, mais pai e mais motorista será, tudo a um só tempo, para o prazer exponencial de sua pessoa, que será mais intensamente ela mesma, por se reconhecer mais igual e mais diferente de si mesma (identidade e equivalência). Se se estender o exercício, será possível imaginar que quanto mais alguém se aplicar na diversificação e na troca lúdica de papéis, a exemplo das crianças, mais ampliará a sua visão de mundo, mais conflitos enxergará, mais solidariedade promoverá, mais portas de acesso ao mundo se abrirão para ele, mais próximo estará o mundo dele e ele do mundo, mais intensa será a sua comunhão com o universo, na sua identidade e na sua diversidade.
Mas, atenção: a experiência de se aderir intensamente a um papel é enriquecedora somente sob a condição de que aquele que o desempenha seja capaz de tomar distância lúdica dele com igual intensidade. Retenha, leitor, o termo distância. Essa é a questão central em nossa conversa. O ator desempenha tanto melhor o seu papel quanto mais distante e quanto mais próximo dele se coloca. Aprecia-se tanto mais a sensação de saciedade quanto mais se antegoza o sabor do alimento e quanto mais se prolonga a expectativa de saciedade, que estimula o apetite. O amante ama tanto mais quanto mais é capaz de se distanciar de si mesmo e do objeto de seu amor e quanto mais se aproxima de si mesmo e de seu amor.
Quando não consegue descolar-se de seu estereótipo (repetição do papel), o papel transforma-se em um consumo doentio de poder. Esse poder emanaria, ilusoriamente, dos estereótipos, um poder ao qual se atribuiria uma força sobre-humana, por não se enxergá-lo ao alcance da possibilidade humana de sua deposição. O papel (repetição de um comportamento), imobilizado no seu estereótipo, assim como toda abstração auto-suficiente (Razão, Raça Ariana, Mercado, Estado, Instinto, Inconsciente, &c.) escraviza, enquanto o sujeito, que por ele responde, liberta. Por isso, diz-se que a carreira do poder hierárquico, um papel, tem início com a rejeição de si mesmo, na auto-confissão de impotência –na rendição do papel ao seu estereótipo. É dizer que Durkheim, Hegel, Foucault ou Habermas procedem como a maçã da ciência. Em vez de confiarem à unidade contextual da pessoa a decisão de legitimar os caminhos que escolhe e de agenciar as opções que faz, confiam-na à racionalidade impessoal do papel colado no estereótipo: degradação da Política do Sujeito a políticas do conceito. O papel, ou a sujeição da pessoa a alguma coisa, é «a caricatura de si mesmo que se leva para toda parte, levando consigo a responsabilidade de nele fazer valer a sua ausência» (Vaneigem, R., 1967)). Razão tem a pessoa do turista que, ao não se dobrar à racionalidade excludente de seus papéis (as suas partes), mantém-se inteiro, capaz portanto de se comprazer na existência, com risco. Entregue às suas pretensões absolutistas, o papel vampiriza a vontade de viver» (Vaneigem, R., 1967).
A pessoa não se confunde com um realejo. Ela também gosta de música nova. Nela, repetição e invenção interagem. Um gesto, que se atualiza na sua repetição, inova ao se atualizar, pois não há gesto humano capaz de se repetir do mesmo modo. Norma inventiva e invenção normativa são dois aspectos inseparáveis da ação humana. Retomarei essa questão mais à frente. Não existe quem seja capaz de desempenhar o mesmo papel de um mesmo modo e, inversamente, pessoas diferentes desempenham um mesmo papel. Isso é possível porque entre o papel e a pessoa existe uma distancia, a auto-recorrência. É dizer que o papel, como representante do estereótipo (o social), e a pessoa que o desempenha (o individual), como seu suporte e referência, integram um mesmo espaço dentro do qual mantêm interações conflitantes e solidárias: num mesmo gesto, enquanto o papel repete, a pessoa que o desempenha inova, a um só tempo.
Afirmar que existe uma distância entre o papel e a pessoa que o desempenha é assumir que não é o papel, isoladamente, que «causa» mudanças na pessoa, nem é a pessoa, isoladamente, que «causa» mudanças no estereótipo, que o constitui como instituição social para uso individual. E, como aqui não funciona o raciocínio por inferência («se isso, então aquilo»), não é possível saber previamente o resultado dessas interações, pois, se é a pessoa que controla a sua resposta aos estímulos advindos do contexto do papel, não é ela que controla, isoladamente, a construção do estereótipo, e sim a prática social. A pessoa de um burocrata, por exemplo, pode assumir o seu papel de modo solícito, displicente, arrogante, distante ou subserviente, dependendo da variação de seu contexto, que se define como comunicação entre as partes que nele interagem; mas não pode, isoladamente, instituir socialmente a estereotipia do burocrata.
É preciso admitir, pois –e isso é de suma importância para a compreensão da Política do Sujeito–, que o papel, a exemplo da deusa Juno, tem duas faces, uma voltada para a pessoa que o desempenha e outra, para o seu estereótipo. Esquematicamente, uma face interage com a pessoa, e a outra, com a sociedade, mediada pela pessoa. O que se enxerga como seu desempenho é expressão unitária de suas interações, impossíveis de prever, embora presumíveis, pelo seu caráter humano. É, portanto, no espaço unitário entre as duas faces que se institui o locus da Política do Sujeito. Se se isolam uma da outra, a Política do Sujeito degrada-se em política do conceito, assumindo uma dentre as muitas de suas formas reducionistas.
O caráter bifronte do papel corresponde à multivocidade do sentido da palavra no diálogo. Cada interlocutor o apreende de acordo com a referência de seu próprio contexto, por definição diversa e una a um só tempo: diversa, porque o contexto de cada uma delas é singular; una, porque ambas remetem à referência comum e última –o desejo de se comprazer na existência. Diz uma piada, maldosa contra as mulheres mas ilustrativa neste contexto, que o marido batia na esposa sem saber porque batia, enquanto a esposa sabia porque apanhava. O reconhecimento do caráter bifronte do papel e da liberdade contextual da pessoa, na escolha da resposta que dá aos estímulos vindos do contexto do papel, é de capital importância epistemológica e política (ética) para a destituição das políticas do conceito, em suas pretensões de auto-suficiência e, inversamente, para a reafirmação da interação indivíduo-meio como locus normativo da Política do Sujeito.
A desqualificação dessa evidência intuitiva, em proveito das idéias claras e distintas, veiculadas pelas políticas do conceito, é responsável na atualidade por toda a confusão e pelo enorme quiproquó na discussão sobre as estratégias sociais e políticas de superação do liberalismo e do capitalismo. Limito-me a dar um exemplo, sobre o papel do dinheiro na sociedade atual, como instrumento de mudança social e política, reportando-me a uma experiência de economia solidária, a do banco popular Grameen, de Bangladesh, criado pelo economista Muhammad Junus. O Grameen opera em mais de 40 mil aldeias, das 60 mil do país. O exemplo é ilustrativo do falso caráter dicotômico da questão que costuma alimentar tais debates: «O banco Grameen é capitalista ou revolucionário?»
A exemplo de todo papel, o dinheiro, como suporte de relações sociais, é bifronte: presta-se a veicular um sentido, que é assumido diferentemente pelos interlocutores nos seus respectivos contextos, de acordo com as suas respectivas referências. A face interna corresponde ao caráter humano de sua instituição, susceptível de encarnar uma diversidade de propósitos; a face externa corresponde ao seu valor monetário capitalista, ao seu aspecto de coisa, como objetivada pelo capital. Para o pessoal do Grameen, a dupla referência, unitária (comum e diversa), dispõe-se da seguinte forma: a primeira, a face interna, diz respeito à promoção humana, mediante a utilização do instrumento dinheiro, atributo diferencial do «negócio financeiro», que é o seu, «negócio» porém não apenas financeiro, nem apenas «negócio», pois sob a referência da promoção humana, que não é a do valor monetário capitalista, o recorte de sua realidade é qualitativamente outro. A segunda, a sua face externa, diz respeito às regras de valorização do capital, com as quais a primeira tem de lidar necessariamente nos contextos que os integram, neles interagindo com os demais elementos. Ambas as faces qualitativamente diferentes do dinheiro digladiam-se num mesmo espaço solidário. Com efeito, por parte de Junus e dos acionistas e prestamistas do Grameen, o seu objetivo, com o uso do dinheiro, opõe-se ao objetivo do sistema financeiro capitalista, e o que caracteriza essa oposição são as suas respectivas referências (uma real, como valor humano; e outra vicária, como coisa, no lugar do humano) apostas sobre um mesmo instrumento –o dinheiro. À luz da dupla referência, tem-se, pois, que ambas as faces opõem-se estrategicamente de modo includente: ambas estão implicadas e interagem num mesmo espaço comum normativo, por exemplo, regras do Banco Central, na condição de capital, por exemplo; e prioridade social na alocação dos recursos, na condição de instrumento de promoção humana, por exemplo. Do lado do pessoal de Junus, o dinheiro bifronte presta-se tanto a se constituir como suporte das relações capitalistas com o seu entorno capitalista, quanto a se constituir como suporte de suas estratégias de mudança nas relações sociais, culturais e políticas. Prestar-se-á como estratégia de mudança enquanto o pessoal associado ao Grameen conseguir manter o seu caráter bifrontal (coisa e valor humano), frente às aspirações excludentes do mercado capitalista, que quer reduzi-lo a simples coisa (valor monetário capitalista). Esse é o espaço sobre o qual deve incidir a estratégica defensiva de transformação. Esse é o espaço real do conflito, e não o espaço dicotômico abstrato, representado pela oposição excludente entre o capital e o seu contrário. Nem somente coisa, nem somente valor-não monetário, mas ambos num mesmo contexto –eis caracterizada a distância. ou a tensão, de que falava acima.
Contexto ou auto-recorrência: ação (transformação) em condições dadas, que se transformam como resultado da própria ação. É dizer que o campo de ação, no qual se digladiam, interagindo, os contendores de ambos os lados, não é dado de antemão, pois se constitui à medida que a peleja transcorre, uma peleja que se caracteriza pelas investidas das partes de apor sobre o mesmo instrumento dinheiro significações contextuais (práticas: reais e abstratas a um só tempo) diferentes, de acordo com as referências dos respectivos contextos.
Não há por que estranhar essa ambivalência, «fluidez» ou «imprecisão» do papel dinheiro: tudo o que cai sob a nossa percepção, contextualmente orientada, encontra-se no estado de já não ser o que era e ainda não ser o que será. Nessas condições, a despeito da vocação profética do marxismo-positivista, é certo que o desfecho é imprevisível, tanto na perspectiva de um lado quanto do outro. É insensatez sonhar com a ablação artificial da tensão no conflito, como o fazem intestinos e paladar, em favor de certezas, soluções completas, ou ortodoxias, tão puras quanto estéreis. Um século de estratégias positivistas embebidas num marxismo «à la Escola de Frankfurt», não produziu absolutamente nada, além de redundâncias e tautologias.
Com a migração da idéia de banco do povo, de Bangladesh para o Brasil, o papel dinheiro parece ter perdido uma de suas faces, aquela susceptível de se assumir como um dos agentes da metamorfose, para se deixar conduzir pela outra, a coisa, na pressuposição de que a universalização do acesso ao dinheiro, por parte dos mais pobres, vai prestar-se à indução mecânica da mudança social. Refiro-me às experiências com o banco do povo realizadas sob a condução de governos «democráticos e populares» do PT e dos governos do PSDB. Tem-se, assim, mediante o recurso a um mesmo instrumento –o dinheiro–, duas propostas, uma de mudança real, e outra, ilusória, de reiteração ampliada da mesma coisa.
Em contraste com a transposição caricata do banco do povo, tem-se no País a experiência transformadora do Movimento dos Sem-Terra, que se vale do espaço institucional assegurado pelo Estado para diversificar os centros de poder e, assim, contê-lo nas suas aspirações anti-democráticas e absolutistas a serviço do mercado. Nas áreas sob a sua influência e resistência, processam-se mudanças sociais e culturais substanciais, tais como novas relações de trabalho, socialização de tarefas familiares e profissionais, distribuição dos resultados em termos de equivalente/trabalho, valorização dos valores comunitários, novo currículo escolar, &c. Observe-se que o MST se move num meio capitalista, sem se identificar com ele e sem dele se dissociar: distância, ou liberdade contextual. O que caracteriza a mudança de estado de um contexto (problema) para outro não é a natureza supostamente intrínseca das partes, mas o modo como as partes interagem, orientadas por suas respectivas referências.
* * *
É preciso livrar-se da tirania dos papéis unicórnios e confiná-los ao lúdico, a exemplo de como procedem Deus e o Diabo na versão machadiana do mito bíblico. É somente na tensão do jogo que se instala o problema da existência. Se se eliminar o drama, no sentido brando e forte do termo, elimina-se com ele o problema e a solução.
* * *
Eis o problema e a solução: quanto mais se acirra o conflito, mais intervém a solidariedade; e quanto mais intervém a solidariedade, mais se acirra o conflito. A questão é auto-recorrente: Política do Sujeito.
* * *
Se se quiser reconhecer as trajetórias do ioiô, não se pode dar ouvidos à Mecânica newtoniana, que o retira das mãos da criança, removendo dela, em conseqüência, tanto o prazer de brincar quanto a sua capacidade de aprimorar a sua destreza no jogo. É assim que se exponencia o risco. Por isso, é preciso «descrevê-las» em ato, no decorrer da brincadeira, de resultado imprevisível; do contrário, está-se fora da realidade. No plano da abstração, descrevem-se com precisão trajetórias previsíveis que jamais ocorrerão, estimulando dessa forma o exercício da imperícia no jogo estéril das inferências.
* * *
A metáfora de Veríssimo sugere que a ação, antes de ser racional, é humana. É dizer que a racionalidade é apenas um dos valores que integra, juntamente com os demais, o espaço unitário de valores que caracteriza a decisão, o ser humano, na sua existência contextual. Assim como ocorre com os intestinos e o paladar, também o racional, o lúdico, o estético, o ético, o passional, &c., valores distintos porém indissociáveis, disputam entre si o direito de precedência, ou a exclusividade, de instituir o campo no qual vai incidir a decisão.
O convívio entre os valores é conflitante, mas o conflito aqui é de caráter includente. Na paixão amorosa, o passional não combina com o racional, por exemplo –para a sorte de ambos– ; nem por isso, a prevalência das emoções num determinado contexto exclui a possibilidade de intervenção da racionalidade no espaço da decisão, e vice-versa. O fato é que o resultado da decisão é expressão da interação conflitante e solidária das partes. Mas observe-se: o caráter includente do conflito mantém-se somente graças à presença do turista, que integra na sua pessoa a oposição entre as partes. Uma vez entregues à própria sorte, descoladas da pessoa, as partes eliminam-se mutuamente em duelos lógicos. As abstrações, que os constituem, passam a mandar em nós, em vez de sermos nós a comandá-las. É o que ocorre, indiferentemente, a Dom Quixote ou a quem se deixa subordinar pela lógica da acumulação do capital, representando-se a si mesmo aos próprios olhos estritamente como coisa (classe social). Por isso, é preciso estar atento para as ambições das partes, ou das ideologias, que aspiram a comandar o todo de forma excludente, totalitária.
O maniqueismo ignora que há sempre alguma reserva de humanidade na desumanidade. Mesmo a dominação do capital, e a alienação que promove, nunca é completa. Por mais que o queira o capital, o operário nunca será aos próprios olhos apenas uma mercadoria. Assim como Simão Bacamarte recupera a lucidez ao cabo de muita insensatez, Dom Quixote ao fim da vida pôde afirmar: «Fui louco e hoje estou no meu juízo». Por mais que um escravo seja considerado coisa, como objeto de propriedade, nem ele próprio nem o seu proprietário conseguiriam convertê-lo em coisa somente. É possível observar nos potes de barro que o escravo fabrica, sob o guante do feitor, preferências, sentimento e gosto estético, por exemplo, que o seu dono dele não exige nem controla. Há sempre um excesso de humanidade para além das abstrações que pretendem assumir o seu lugar. Os estereótipos, que se assumiriam, funcionalmente, como espelho fiel da «estrutura» social –os opostos na luta de classes, por exemplo–, têm a pretensão de conduzir mecanicamente os seus respectivos papéis e, estes, a pessoa que os desempenha. Mas é preciso observar que entre a pessoa e o papel que ela desempenha há uma distância, o espaço da auto-recorrência. Cabe à pessoa decidir, fazer infletir, na afirmação de sua humanidade, o modo paradigmático como o estereótipo exige que o papel seja desempenhado.
A pretensão alucinada dos estereótipos funda-se na ilusão de que, não sendo a pessoa, titular dos papéis, capaz de controlar a realidade, cada parte, considerada isoladamente, o é. Ao se simplificar indevidamente a complexidade da realidade, acredita-se ingenuamente que esta se deixa controlar. Ocorre que o caráter infinito das possibilidades de modos de se responder às investidas das abstrações acaba por manifestar-se, emergindo no interior do espaço delimitado por elas. Ou seja, enquanto a pessoa se mantiver à frente de seus papéis, o caráter includente das oposições há de prevalecer sobre a sua exclusão mútua. A prevalência dos duelos lógicos, que impõe por inferência conclusões necessárias, elimina o espaço em que o ser humano, em contexto, se coloca a pergunta sobre o que pretende fazer de si mesmo: elimina a liberdade e a responsabilidade. Se a história fosse movida por um êmbolo, uma necessidade endógena, não se saberia dizer, por ocasião de sua realização, se lá se chegou por mérito ou resignação.
Jorge Luis Borges chama atenção para o caráter delirante das abstrações auto-suficientes na sua alegoria fantástica dos cartógrafos. Os Colégios de Cartógrafos fizeram um mapa do tamanho do Império que tinha o tamanho do Império e coincidia ponto a ponto com ele. A fantasia cartográfica alimentava-se da ilusão de que a abstração que ela gera é capaz de representar adequadamente a realidade. Assim procedendo, os cartógrafos não se davam conta de que a própria evolução da cartografia, por eles promovida, altera a sua visão do território, ao enriquecê-la, e de que, em conseqüência, o território, já não sendo o mesmo aos seus olhos, desafia-os, de modo recorrente, a refazer o seu mapa. Quanto mais adequado o mapa, mais diferenças emergirão entre o mapa e o território. A diversidade virtual dos aspectos do território não corresponde à diversidade dos aspectos que os cartógrafos nele conseguem enxergar. O território não é a expressão de sua habilidade cartográfica, e esta não é a expressão do território. Ainda assim, não convém dispensar os mapas.
Da mesma forma, a prática social não se identifica plenamente com o recorte conceitual da luta de classes –recorte abstrato e não real–, embora dela seja suporte e referência. O capital, por mais que pretenda, com a sua presença hegemônica, não é senhor absoluto da realidade e não detém o monopólio da representação da realidade. Outras perspectivas de convivência humana disputam com ele o direito de enunciá-la, denunciando-o, por exemplo, como uma patologia social. Isso é dizer que o entrechoque real não se dá no plano dos papéis, mas no plano das pessoas que os desempenham. Há, portanto, mais coisas envolvidas na luta de classes do que as classes em luta. Esse «mais coisas» é o meio, o ambiente, o contexto, o espaço unitário de possibilidades, a referência, a pessoa. As interações que ocorrem nesse espaço, assim como as que ocorrem no espaço ambiental propriamente dito, não são orientadas previamente numa direção determinada, porque, em se tratando de incidências de interações sobre redes de interações, e não de causação mecânica de um elemento por outro, o resultado é imprevisível. A incerteza está inscrita no coração da luta entre as classes. A luta de classes é luta de classes, em primeiro lugar, porque é humana (como evento contextual: o modo de produção capitalista). A referência do contexto da luta de classes não é a luta de classes, mas o desejo de se comprazer na existência.
* * *
No lugar do conflito e da solidariedade, o pensamento dualista instala a cooperação, que é funcional. Vamos discuti-la, no seu cotejo com a solidariedade. Apóio-me em Kaplan & Lasswell (1979). Sendo apenas funcional, a cooperação apenas não basta e, se nela insistem a escola e a retórica dos meios de comunicação de massa, é porque ela se presta ideologicamente a escamotear o que é fundamental, o conflito e, juntamente com este, a solidariedade. Por ser funcional, a cooperação, além de não levar ninguém a sair de seu próprio papel, obscurece o reconhecimento de sua interdependência. O individualismo moldado pela ideologia da coisa comporta-se como coisa: promove um curto-circuito no jogo, ao isolar os parceiros em trajetórias paralelas, fechando-lhes assim a possibilidade de reencontro pela iniciativa solidária.
A cooperação expressa a idéia de que as pessoas tendem a coordenar entre si os seus atos, como ocorre na divisão do trabalho. O «nós» da cooperação é uma equipe de trabalho, na qual cada um faz a parte que lhe compete, sem olhar para os lados, senão para exigir dos parceiros que não atrapalhem. A equipe assim constituída é uma soma homogênea de partes e não um entrechoque qualitativo entre pessoas, aí presentes como suportes de seus papéis, entrechoque que lhes arrebente os limites que os definem. É uma reunião de especialistas, não uma reunião de competências. A cooperação coordena operações funcionais diversificadas, mantendo os operadores idênticos a si mesmos do início ao fim do trabalho, como se tratasse de engrenagens de uma máquina. É, pois, puramente mecânica; opera no fundo contra si mesma, empobrecendo-se, já que ninguém é uma ilha. Já a solidariedade é a integração de expectativas desencontradas, que não pretendem conciliar-se ao preço de se eliminarem mutuamente na soma vetorial, de elementos homogêneos. Pois a sua eficácia resulta da exacerbação do conflito e da colaboração, e não de sua escamoteação.
Além do fazer, a solidariedade expressa o sentir o conjunto, respeitando-se a singularidade de cada um, a sua irredutibilidade, necessariamente conflitante com a singularidade do outro. Ela não consiste em um simples paralelismo das subjetividades: isso acarretaria compatibilidade, como a existente entre a chave e a fechadura, mas não a interação entre solidários, necessária para a sua co-evolução. A interação co-evolutiva entre os parceiros leva necessariamente à sua transformação, cada um deles aprendendo com a própria experiência no seu cotejo com a do outro. A criança amadurece junto ao adulto, e o adulto revigora o seu sentimento de infância junto à criança. Na cooperação, ao contrário, a não-interação entre os membros do grupo começaria e se encerraria apenas no contato, próprio das coisas inertes, e não no contágio, próprio do que é vivo.
Para que um grupo experimente a solidariedade, é preciso que seus membros levem em conta as expectativas dos outros, para fazerem valer as suas próprias e não para abrir mão delas; que estejam interessados no interesse dos outros, mas em causa própria, sem abdicar de seu próprio interesse. Na solidariedade, não há apenas um certo número de egos promovendo a mesma reivindicação, mas um certo número de eus que se juntam para reforçar mutuamente as suas diferenças, o pleito individual de cada um, inconfundível com o pleito do outro. É a diversidade dos pleitos que convoca à união, não a sua uniformidade.
Um agregado de pessoas que cooperam mecanicamente entre si não é um grupo solidário. O fato de partilharem expectativas recíprocas não é suficiente para construir a solidariedade. Mesmo a identificação mútua entre membros do grupo não a constitui, pois ela é feita, como se pode observar no comportamento do turista, de diferenças na unidade. A cooperação, que iguala a todos na suposta funcionalidade dos papéis, é um aglomerado de átomos sociais, que se juntam artificialmente para se darem a ilusão de unidade, ao promover e consolidar a sua separação: «Cada macaco no seu galho», diz o provérbio funcionalista.
É tanto mais provável que surja a solidariedade no grupo quanto mais difícil seja a realização de cada objetivo singular. É tanto mais provável que se rompa a solidariedade no grupo quanto mais os seus membros se sintam estreitamente ligados por interesses comuns. Uma vez removidas todas as diferenças, irromperá, com a uniformidade assim estabelecida, pelo menos uma diferença. É da uniformidade que brota a tentação do poder hierárquico, que irá prevalecer enquanto seus membros não se derem conta das diferenças irredutíveis que carregam consigo. As pessoas são iguais somente perante o espelho da abstração: todos são cidadãos; nenhum o é como pessoa, que é igual e diferente de si mesma.
É tanto mais provável que uma reunião de opiniões atinja a solidariedade quanto mais controvertidas forem as opiniões. Um conflito intenso entre opiniões estimula e intensifica o reconhecimento mútuo, e a expectativa de cada membro do grupo dá apoio à expectativa dos outros: as reivindicações podem ser feitas em nome de um eu que transcende o eu individual, na referência da unidade dos opostos. As diferentes expectativas somente reforçam o conflito e a solidariedade, sem risco de neles se desfigurarem, quando os membros do grupo sentem reconhecidas as suas diferenças, e não quando promovem a sua uniformidade. Como exemplo de conflito e solidariedade, tem-se a integração social. Esta dá-se pelo reconhecimento de si mesmo e dos outros, dos outros em si mesmo e de si mesmo nos outros, como membros de uma mesma comunidade. Dá-se mediante o diálogo que, sendo construtivo, explora a igualdade nas diferenças para reconhecer as diferenças na igualdade.
* * *
A temática do conflito e da solidariedade pode ser escandida em todas as claves, na cozinha, no trabalho fora de casa, na arquitetura, na pescaria, na arte, nas relações amorosas ou nas relações internacionais. Assim, por exemplo, no debate sobre a necessidade de gestão ambiental integrada da Zona Costeira brasileira –que é aqui considerada como o espaço unitário de suas possibilidades de uso–, registram-se conflitos entre os usos da região em competição por recursos (recreação x navegação x lançamento de esgotos urbanos, exploração de petróleo x pesca); competição por espaço (preservação x expansão urbana x portuária); conflitos por impactos de rejeitos (as atividades de um setor interferem negativamente no ambiente de outro setor, ou no próprio ambiente); e conflito de valores (diferenças na percepção dos valores da região costeira por diferentes grupos sociais, econômicos, políticos, &c.). A orientação assumida neste livro é que não se trata de eliminar liminarmente tais conflitos, pois dessa forma se removeria o problema em vez de solucioná-lo. Conflitos por razões de espaço, recursos, valores, sempre existirão, e é graças à explicitação de sua emergência que se constrói um espaço comum e pedagógico para a busca de soluções. Trata-se, pois, de estimulá-los para que venham à luz e, assim, se possa enxergar melhor a complexidade da realidade, ou o contexto com o qual se está lidando. Como condição para que a sua resolução seja adequada –o que significa uma resolução necessariamente incompleta–, é preciso neles enxergar-se o aspecto que os integra na unidade de sua diversidade.
Observe, leitor, que a exigência de unidade e de visão integrada por parte do ambiente é a contraface do caráter integrado da ação humana, no sentido preciso e universal da expressão, o que se traduz na prática em acolher o critério de obter-se o máximo proveito na exploração econômica desses nichos sob a condição de que seja realizada mediante o reconhecimento e a explicitação de seu valor não apenas em termos monetários, mas também e principalmente em termos de sustentabilidade. É dizer que o aspecto econômico da exploração não pode ser dissociado dos demais valores, tais como o estético, o ético, o social, o antropológico, o lúdico e o ambiental. Obviamente, o caráter unitário da gestão ambiental não se concilia com a lógica da acumulação de capital, que é excludente.
Em que pese a proliferação de programas, instrumentos e normas para a Zona Costeira, a retórica da «gestão ambiental integrada» não avança em qualidade, por razões que fogem ao âmbito de nossa vocação legiferante. A exação de normas, expressão do estado de construção da consciência ambiental no espaço do Estado e da sociedade, não produz mecanicamente o seu aprimoramento. A letra da lei é circunscrita abstratamente e, por isso, não interage com o meio promovendo enlaces solidários. Para se avaliar o contraste esquizofrênico entre a morosidade na obtenção de resultados e a proliferação de normas, é preciso atentar para algo mais, para o que representa, singularmente, a atualização histórica e cultural do paradigma ambiental e a sua contribuição para a gestão da vida em sociedade, aí incluída a gestão dos recursos naturais.
A problemática ambiental emergiu, na atualidade, do reconhecimento da incapacidade do Estado e do mercado, considerados isoladamente, de lidarem com as questões ambientais. Essa incapacidade não é fruto de geração espontânea, mas sim um resultado ideológico imprevisto, embora deliberado e contraditório em seus princípios, da visão econômica neoclássica, que consiste em uma profissão de fé nos princípios do individualismo metodológico, do utilitarismo e do equilíbrio, em consonância com os cânones da física clássica e, por extensão, com a sociologia de Durkheim, criadas para lidar com coisas inertes. Trata-se de uma visão de mundo que intenta explicar a economia e a vida em sociedade como agregação das ações de indivíduos racionais, que se comportariam de modo a maximizar suas utilidades individuais, o que conduziria a alguma forma de equilíbrio. Esses são os princípios subjacentes à soberania e ao funcionamento do livre mercado, a partir do comportamento dos indivíduos. Tal abordagem termina por conferir o status de econômico a algum fator ou elemento apenas se este puder ser reduzido em termos das utilidades ou preferências dos indivíduos, que se expressariam em termos monetários.
Sendo o livre mercado a estrutura institucional central da economia neoclássica, é o mercado também a estrutura central em sua abordagem teórica da problemática ambiental. Na atualidade, porém, por pressão das circunstâncias reais, que estão a atropelar a crença de Hayek e Friedman na suposta transparência das informações do mercado, a abordagem ambiental neoclássica acabou por admitir a existência de custos sociais que não se encontram expressos em termos de preços de mercado. Ou seja, aqui o mercado, suposto promotor automático do equilíbrio, falha, ao expressar no sistema de preços apenas determinados custos que efetivamente ocorrem. Tais custos, por se constituírem em valores que aparentemente não incidem sobre as preferências subjetivas do agente que os gerou, são chamados externalidades, no caso, externalidades negativas.
Nessa ótica, a autoridade reguladora ambiental deveria simplesmente visar, primeiro, à identificação dos custos sociais externalizados e, em seguida, utilizando-se de instrumentos como taxas ou licenças, levar o agente gerador de tais custos a internalizá-los (princípio do poluidor-pagador). Com isso, supõe a teoria, o dano ambiental em questão terá sido reduzido exatamente ao nível entendido como economicamente ótimo de dano.
O problema é saber-se como mensurar esses custos, uma dificuldade que não se resolve no âmbito do mercado. Isso porque um recurso natural, ou um valor ambiental, traz associado a si necessariamente um valor existencial, e este, não sendo uma mercadoria, não se expressa no sistema de preços. Ou seja, o critério de avaliação utilizado pelo individualismo metodológico não guarda por construção compromisso com os requisitos de sustentabilidade e de justiça com as gerações futuras.
Em contraposição à abordagem neoclássica, tem-se, como resposta epistemológica e ética, ao mesmo tempo imprevista e desejada, à agressão ambiental generalizada, a atualização de uma perspectiva que migra da visão que assume o locus econômico como formado pelo locus dos indivíduos, para o reconhecimento da centralidade da interação indivíduo-meio e dos valores comunitários. E, ao se eleger essa interação como o valor-referência da existência humana, subverte-se em decorrência a própria acepção tradicional de epistemologia, pois de agora em diante a racionalidade instrumental, responsável pela fragmentação artificial do conhecimento e pela correlata fragmentação artificial da realidade, não poderá mais dissociar-se da axiologia, ou da ética e os demais valores humanos.
Tal perspectiva encontra suas fundamentações nas elaborações da Economia Ecológica e suas variantes. Resumidamente, destas têm-se que as pessoas –os movimentos sociais, as ONGs e as instituições– constituem, juntamente com o mercado e o Estado, o locus político, social, econômico e cultural, que é indissociável do locus existencial, da mesma forma como são indissociáveis as interfaces de um determinado ambiente. O próprio mercado não é um fato estritamente econômico, ou natural, mas uma instituição humana, uma construção social e cultural que depende de leis e normas para seu funcionamento. O mercado, com seu sistema de preços, e os indivíduos, com suas preferências, constituem por certo importante elementos, mas os elementos que importam não são apenas esses, quando se considera o aspecto da exigência ética de sua integração. A contribuição específica da participação comunitária no modelo consiste em impedir que ele se dissocie –alçando vôos auto-suficientes e alucinados, a exemplo de orelhas que se desgarrassem da cabeça–, da prática social, terreno do qual brota a legitimidade não somente das exigências normativas como também da necessidade de sua revisão recorrente.
Nessa perspectiva, ao se reintroduzir no espaço da reflexão a interação do indivíduo com o meio, como dimensão ética da vida em sociedade, remove-se o paradigma linear e mecânico, da mesma forma que a univocidade autoritária do discurso que lhe corresponde, e se restabelece o paradigma ambiental, ou o diálogo e a contextualidade, ou seja, o reconhecimento da diversidade real dos pontos de vista, conflitantes necessariamente, mas solidários no espaço unitário que vincula e compromete a todos no desejo comum de se comprazer numa existência sustentável. Restabelece-se, em outras palavras, o caráter substantivo e plural da democracia, a diversidade dos discursos, a afirmação das diferenças na igualdade, ou a Política do Sujeito. Têm-se, assim, a remoção da arrogância e do preconceito e o reencontro entre o cidadão e a pessoa, entre o indivíduo e a comunidade, entre o local e o global, entre a dimensão individual e a dimensão universal, indissociáveis.
Uma abordagem adequada ao desafio da gestão ambiental integrada da Zona Costeira exige, pois, que se superem as concepções tradicionais de desenvolvimento, segundo as quais as comunidades participam como mão-de-obra apenas. A participação das comunidades, como uma das interfaces e referência do contexto, deve dar-se no reconhecimento da realidade, na análise, na decisão e na ação. Mais importante que tudo, a ação integrada e recorrente, daí resultante, deve orientar-se por uma referência última –o desejo comum a todos de se comprazer numa existência sustentável.
O processo de consulta e de participação comunitária é um processo político. Quando um projeto, como o do desenvolvimento sustentável da Zona Costeira, é de natureza contínua e abarca a tomada de decisões em todas as fases de seu «ciclo» recorrente, transforma-se em modelo de valor exponencial para o fortalecimento da sociedade civil, de maneira democrática e aberta, condição prévia do desenvolvimento sustentável. A participação comunitária significa algo mais que simplesmente ser informada sobre os planos de desenvolvimento ou de se levar em conta os conhecimentos da comunidade local e suas prioridades. Introduzir a dimensão comunitária no modelo significa que a comunidade, os planejadores do governo e os agentes do mercado celebram um diálogo interminável, no qual as idéias da comunidade contribuem decisivamente para configurar e gerir os projetos. O desenho definitivo –se é que existiria– de um projeto deve refletir as respostas da comunidade no processo de diálogo. Esse processo deve abrir espaço para um estilo de participação no qual a comunidade compartilha a autoridade e o poder em todo o ciclo de desenvolvimento, desde as decisões normativas e a identificação dos projetos até à sua avaliação recorrente. Com a inclusão da participação comunitária, o conceito de desenvolvimento converte-se num processo que tem como referência o ser humano e não os objetos, e as comunidades passam a ser enxergadas como promotoras e gestoras de seu próprio desenvolvimento. Aí está o fundamento ético de toda atividade, mesmo quando esta se presume estritamente econômica.
Isso é dizer que o desenho da gestão ambiental tem como ponto de partida a definição de critérios de sustentabilidade e de justiça com as gerações futuras, tanto quanto isso seja possível. Tais critérios são definidos, analiticamente, do ponto de vista técnico-científico, determinando-se as condições técnicas para a sustentabilidade, e do ponto de vista social e cultural, reconhecendo-se o compromisso ético com as gerações atuais e futuras. Na realidade concreta, porém, esses processos, indissociáveis embora distintos por definição, dão-se a um só tempo numa mesma perspectiva unitária. Dados tais critérios, a análise deverá então identificar o vetor de valores, monetários e não-monetários, confrontando-os. Um exercício necessariamente conflitante. Mas a realidade é assim, e não há outra. Quando chegar a hora de se confrontarem os valores monetários e os valores não-monetários ver-se-á que o desafio é auto-recorrente: o enunciado do problema, por definição, consiste na delimitação de suas fronteiras, ao mesmo tempo em que as fronteiras têm a delimitação que a resolução do problema requer. Em razão disso, ao contrário do que pretende o individualismo metodológico, a solução nunca é completa, para a nossa sorte: assim temos a oportunidade de rever as próprias decisões por ocasião de uma percepção mais abrangente e integrada da realidade.
* * *
A quem me acusasse de relativista, cético ou cínico, responderia que a existência é valor, uma normatividade. E aqui remeto o leitor à obra de Georges Canguilhem, que sigo de perto nesta exposição (veja a bibliografia). A normatividade designa aquilo pelo qual o ser humano vincula-se a seu meio, tornando-se sujeito do meio graças à eleição de valores mediante os quais ele transforma o meio em obra sua. A normatividade subentende, assim, a criação de normas pelas quais o ser humano se mantém e se individualiza. O ser vivo, e o ser cultural, não sofre passivamente o meio no qual se encontra. O comportamento vegetal, animal ou humano (biológico e cultural) não é uma resposta mecânica aos constrangimentos do meio. O ser vivo contribui para constituí-lo, e essa solidariedade no meio é o que caracteriza e constitui a normatividade orgânica e cultural. O ser vivo recorta do exterior aquilo que favorece o seu desenvolvimento, caracterizando-se, dessa maneira, por sua diferenciação. Essa atividade, de manutenção e de produção, atualiza valores biológicos, ou culturais, específicos e particulares. Assim, os termos de obra e de eleição de valores precisam a natureza da atividade.
A vida tanto da ameba quanto do ser humano consiste em preferir e excluir. A regulação do organismo, ou da cultura, que é a possibilidade de harmonizá-los com o seu meio interno (harmonia = conflito e solidariedade), valoriza as condições de sua co-evolução, ao mesmo tempo em que desvaloriza as perturbações recorrentes do meio, que o expõem à destruição. Assim, todo ser vivo (ou cultural) individualiza-se pelos valores que atualiza. A normatividade especifica a criação viva de valores que tornam possível a co-evolução do ser vivo e do seu meio, ou seja, seus estados de mudança. O ser vivo e o meio são, pois, processos paralelos e autônomos, não porém auto-suficientes. É a sua interdependência que define o seu contexto, de que é expressão a sua atividade co-evolutiva.
Invenção normativa ou normatividade inventiva é como se definiria a existência: instituição de normas valorativas dos fatos com vistas à sua afirmação e defesa contra os obstáculos que se opõem à sua preservação e expansão. A normatividade exprime uma atividade fundamental da vida em todos os seus níveis, para lutar contra o que lhe é prejudicial. Como valor, a normatividade orienta o esforço do ser vivo de se diferenciar, tendo em vista a sua afirmação, como preservação e desenvolvimento, e a sua rejeição a tudo o que se define como negativo, como a doença e a ideologia, que se lhe contrapõem. Assim, a normalidade da existência, ou seja, as configurações contextuais que assume ao lidar com o patológico, vem de sua normatividade.
«A norma, para o ser humano, é a capacidade de mudar de norma» (Canguilhem, G., 1966). Em contraste, a doença define-se pela sujeição da existência a uma norma única. Uma norma única de vida submete a existência a uma privação. Já a normatividade, ou a capacidade de criar novas normas, assegura-lhe positivamente a possibilidade de mudar. É nisso que consiste a normalidade homeostática, na instalação de um novo estado do problema, estimulada pelos desvios normativos da própria existência. O estado patológico, sob esse ponto de vista, é o debilitamento de seu poder normativo.
A criação de valores pressupõe a existência, como manifestação afirmativa. Seria o que em Nietzsche corresponde à vontade de potência, que o leva a pensar a existência como desejo, ou apetite de nutrição, processo que não pode ser enxergado senão como criação, no sentido de seleção, de escolha e de sua atualização (Le Blanc, G., 1998). «Viver é já valorar. Toda atividade implica uma avaliação, e a vontade está presente na vida orgânica» (Nietzsche). O ato de nutrição pressupõe que o organismo seja capaz de apetite, de avaliação de possibilidades de escolha que permitam satisfazê-lo. O ato de nutrição seria, assim, um ato normativo, que expressa a capacidade criativa do organismo. O corpo vivo, ou a existência humana, torna-se assim o centro de referência absoluto em relação ao qual a vida pode afirmar o seu valor criativo. É a sua criatividade que tornou possível a diferenciação do ser humano quanto á sua participação distinta, porém includente, nos valores. Embora os processos de cada pessoa sejam analiticamente distintos, independentes e paralelos, em razão dos diferentes valores, eles não são auto-suficientes. Todos encontram-se embebidos numa mesma referência, o desejo de se comprazer na existência, desejo indissociável do reconhecimento de outrem, pois o ser humano somente se reconhece a si mesmo na sua alteridade.
A quem me acusasse de reformista, por promover o reconhecimento da aproximação legítima das partes como condição para se poder explicitar o conflito, enxergar melhor a realidade e ampliar assim o espaço de negociação, respondo com o exemplo do banco Grameen e com a analogia da transição do Império para a República. Diferentemente do que ocorre na linguagem binária, na qual o Zero toma o lugar do Um, sem tensão conflitante e solidária, um regime não remove o outro de modo súbito a abrupto. A transição do Império para a República ocorreu porque ambos os regimes contagiaram-se na sua metamorfose, sem se confundirem um com outro.
O que é a metamorfose da pupa e da borboleta (para não falar de outras fases larvais de seu ciclo de vida)? São duas fases distintas, opostas e complementares da vida do inseto, que interagem na sua co-evolução, de acordo com suas respectivas referências e com a referência comum a ambas (veja adiante). A pupa, na condição de pupa, desenvolve-se para permanecer no que é, obedecendo a regras de organização que fazem dela uma pupa; a borboleta procede do mesmo modo. Ambos os respectivos sistemas de regras, característicos de cada fase, opõem-se um ao outro, e essa oposição caracteriza a sua distinção. Como, então, explicar a transição de uma forma de vida para outra? Como é possível transgredir pela repetição e repetir pela transgressão? A resposta é a seguinte: pupa e borboleta, ao mesmo tempo em que obedecem aos respectivos sistemas de regras, orientam-se no seu ciclo de vida por uma referência comum, feita de normatividade e inventividade, ciclo de vida cujo sistema respectivo de regras opõe-se e não se opõe a um só tempo aos sistemas de regras da pupa e da borboleta. Quem preside, instituindo, o espaço conflitante e solidário das partes, é a referência, a pessoa, lógica e não-lógica, a um só tempo.
* * *
A tragicomédia de Dom Quixote é a de quem, medroso, rejeita o risco da transição, e com ele o prazer, para se prender à identidade reiterativa do mesmo (dualista). A figura de Dom Quixote é um exemplo historicamente antecipado do individualismo metodológico. Dom Quixote busca a coincidência plena entre o mundo real que tem à sua frente e o mundo de sua fantasia cavalheiresca que, recolhida aos livros que lê, já não existe. A sua tragicomédia consiste em fazer com que a abstração da instituição medieval da cavalaria que traz na cabeça corresponda à realidade em mudança de sua época. É uma tal identidade que faria a ilusão de sua felicidade epistemológica: não criar nada de novo, senão confirmar a adequação da realidade à sua fantasia.
Dom Quixote é a mais genial encarnação da tragicomédia de todas as ideologias. Assim como estas, ele procede de maneira racional e lógica, ao juntar num todo coerente, com pertinácia e suspicácia, todos os pormenores e todos os fragmentos da realidade que acredita enxergar à sua volta. O que orienta a fúria delirante de suas investidas é o propósito, não de reconhecer uma diferença, uma novidade, mas de confirmar na realidade à sua frente a fantasia que leva na cabeça. Diferentemente do jogo machadiano entre Deus e o Diabo, cada novo lance de sua aventura consiste, não numa nova aventura, mas na coleta de provas adicionais que confirmem a sua verdade delirante. O mundo não lhe desperta interesse, senão como expediente e suporte para confirmar, por simetria lógica, que o verdadeiro mundo é aquele que traz no bestunto, confirmando assim, inversamente, que o mundo real de Sancho Pança não passa de fantasia. Assim, os descaminhos fantasiosos nos quais se perde representariam apenas um desvio do percurso lógico, em circuito fechado, que tem início e se conclui em si mesmo, como se nada de real pudesse ocorrer entre uma operação de inferência e outra. Grandes filósofos, como Descartes ou Hegel, que procederam do mesmo modo, por razões corporativas são poupados do apodo de quixotismo pela tradição acadêmica.
No mundo funcional da atualidade, o valor ideológico supremo é o quixotismo, ou a «ascensão da insignificância» da coisa, no dizer de Cornelius Castoriadis. No papel de Dom Quixote, tem-se, por exemplo, a figura do turista globalizado: sempre o mesmo aeroporto, as mesmas grifes, o mesmo frankenfood, os mesmos hotéis, o mesmo relógio, o mesmo conjunto de malas –tudo ordenado antecipadamente de maneira tão perfeita que não existiria possibilidade de ocorrência de qualquer novidade, a despertá-lo para a sensação de que ainda não morreu. Eis o certificado da «qualidade do serviço» globalizado. Encarnar o princípio de identidade é a aspiração suprema dos idiotas.
* * *
«À medida que se conforma a um estereótipo», escreve Vaneigem, «o papel tende a se congelar, a assumir o caráter estático de seu modelo. Ele não tem nem presente, nem passado, nem futuro, porque ele é um tempo de pose e, por assim dizer, uma pausa no tempo. A reprodução aqui está assegurada pelos ritmos da publicidade e da informação, pela faculdade de fazer o papel falar e, por conseguinte, pela possibilidade de se erigir um dia em estereótipo». O herói, o self made man, o CEO, o vencedor é aquele que, empenhado em se fazer reconhecer aos olhos do mundo pela força de seu próprio engenho, modela a sua personalidade segundo os critérios da impessoalidade do estereótipo. Assim, o vencedor, ou o especialista, é ninguém, um vazio hipertrofiado de nada, que exibe como virtude conquistada com o suor do trabalho (em geral, dos outros) a façanha de se ter convertido numa cópia perfeita do que não existe, senão no mundo de sua abstração. A identidade entre a pessoa e o estereótipo de seu papel é o arremate de sua nulidade, uma negação programática de sua existência singular, única e insubstituível.
* * *
Todas essas prestidigitações, com vistas à afirmação e garantia da certeza, têm em comum o fato de escamotearem o sentido de interação, a noção de meio. Constituem-se, em projeção reflexa, da falsa segurança oferecida pelo dinheiro/capital. A teoria de Charles Darwin sugere que a seleção, atuante sobre os organismos no meio, dá origem a novas espécies. Sempre mecanicamente, porém, sem interação entre o organismo e os seus meios interno e externo. Em Darwin, que parece espelhar a sua ciência numa ontologia providencial, o organismo é o objeto, não o sujeito das forças evolucionárias. A variação individual entre os organismos emerge como conseqüência mecânica das forças internas e externas, que são auto-suficientes, ou seja, independentes do organismo. Se o meio muda, não é em conseqüência de sua interação com os organismos, e sim de eventos cosmológicos, geológicos, climáticos, &c. O darwinismo clássico faz do organismo uma emergência mágica resultante da justaposição mecânica entre forças internas e forças externas. Da contiguidade entre dois determinismos, emergiria miraculosamente o acaso. A galinha (o meio) é a transição, metodologicamente ausente, entre a evolução de um ovo e a seleção de outro ovo. Santos, em seus papéis de barão e banqueiro, é a transição, metodologicamente ausente, entre o Império e a República. Elimina-se, assim, o espaço do drama, o prazer e o risco, o encantamento, em nome da certeza e do controle sobre a realidade.
É mediante tal prestidigitação que se acredita poder afastar o autêntico sentido de interação, identificando-a, equivocadamente, com relações entre funções. Do mesmo modo procede Ludwig von Bertalanffy, em sua Teoria Geral dos Sistemas. Biólogo, Bertalanffy rebelou-se, inicialmente, com o paradigma da física aplicado à biologia. Advertiu que o paradigma não permite distinguir um cão vivo de um cão morto. Seria preciso reintroduzir o cão vivo no laboratório, do qual havia sido banido pelo cientista receoso de que o seu rabo, em agitação contínua, a descrever no ar trajetórias imprevisíveis, esbarrasse numa de suas hipóteses «experimentais», pondo todo o trabalho a perder. Infelizmente, o próprio Bertalanffy acabou procedendo do mesmo modo, ao estabelecer para o rabo trajetórias funcionais (previsíveis). Em escolho de igual natureza chocou-se o grande matemático do século passado, Alan Turing, ao pretender mediante o uso de sua matemática descrever o processo de diferenciação celular. Não há como sair do impasse artificial, senão abandonando as noções de estrutura e função.
É preciso ter em mente que o meio não preexiste ao organismo. Não é uma caixa de correio à espera de que nele se deposite a carta que se quer enviar. Não é um galho inacessível da árvore à espera de que a girafa encompride evolucionariamente o seu pescoço. O organismo não é um mero medium neutro, como o supõe a cibernética, pelo qual as forças externas do meio, ao se confrontarem com as suas forças internas, sem interagir efetivamente, produziriam a mudança. O meio faz-se meio na sua interação com o organismo (espécime), e este faz-se organismo (espécime) na sua interação com o meio. O meio, em sua interação com o organismo, normatiza ao individualizar, e se individualiza ao normatizar. E assim procede também o organismo. Não há dois meios idênticos, assim como não há dois organismos idênticos. Ou seja, o organismo influencia a sua própria evolução e a do meio, ao agir ao mesmo tempo como objeto da seleção e como sujeito criador, em interação com o meio, das condições dessa evolução.
O organismo participa da criação de seu próprio desenvolvimento, e o resultado de cada estado de seu desenvolvimento não é determinante na transição para o estado seguinte, pela simples razão de que o estado seguinte é dependente de como o organismo influi no que virá a ser o resultado anterior de seu desenvolvimento. Um problema auto-recorrente. A estabilidade dos fenômenos, naturais ou culturais, conjuga-se no tempo passado, aquele que já não existe.
* * *
A discussão sobre os aspectos implicados na gestão ambiental integrada da Zona Costeira contribui para se enxergar melhor o caráter unitário do espaço que embebe o problema e a solução: eis a interação co-evolutiva da pessoa do turista com suas partes. À luz da exposição feita acima, pode assumir-se a pessoa do turista como sendo um ambiente no qual interagem as suas «funções» (paladar, intestinos, &c.), ou papéis. Na referência ao ser humano, o ambiente apresenta-se como um contexto. Um contexto é uma maneira de se representar a realidade, sobre a qual vai falar-se mais à frente. À diferença de uma simples abstração, ou de uma forma, como uma figura geométrica ou um conceito, o contexto, embora seja também uma representação da realidade, é mais que uma representação: inclui num mesmo espaço unitário, prático, real e abstrato ao mesmo tempo, o sujeito que a representa, que é a sua referência. Difere, pois, da noção de objetividade na ciência, a coisa social, que salta para fora do campo da subjetividade do cientista, para que este possa instalar uma dualidade sujeito/objeto, que não interagem. Sujeito e objeto, isolados um do outro pela visão dualista, são como orelhas que, desprendidas da cabeça, alçassem vôos auto-suficientes e alucinados por conta própria.
Encontrar-se em contexto é estar integrado (conflitante e solidariamente) consigo mesmo, com seus papéis, com as suas próprias referências, que se assumem como adequadas para qualquer unidade de referência, o indivíduo, a sociedade, a cultura ou a humanidade, e para todas elas simultaneamente. É encontrar-se em estado de mudança, pois das interações resultam estímulos que, ao incidirem de volta sobre o contexto, levam-no a co-evoluir (o contexto e seus componentes). A noção de contexto permite, assim, distinguir, sem separar, o plano da realidade, concebido como o espaço infinito de todos os possíveis (todos os objetos, recursos, noções, abstrações, formas, palavras e também o sujeito, com a sua racionalidade, os seus sentimentos, a sua ética, a sua estética, &c.) e o plano da abstração, ou do objeto, considerado isoladamente, que é parte também do plano da realidade, já que a realidade é tudo.
Considera-se como parte do contexto, e somente parte, a arena dos duelos lógicos, paladar x intestinos, na qual se digladiam também o papel de vencedor e o papel de perdedor, a luz e as trevas, o certo e o errado, o papel de Bush e o papel de Bin Laden, &c. Parte, porque não é possível conceber a disputa entre paladar e intestinos na ausência da pessoa do turista, o ser humano, que é o contexto de todos os contextos. Não há duelos lógicos sem audiência da mente, suporte, testemunha e juiz da luta. Opostos que, se se pudessem eliminar mutuamente, seriam como dois insetos fechados numa caixa de fósforo que se entredevorassem, desaparecendo ambos. O vencedor não subsiste sem o perdedor, e vice-versa. São papéis correlatos, e quem enxerga a correlação não são os papéis, que são abstrações, e sim aquele que a constitui, o sujeito, que é realidade.
Numa analogia com a linguagem, o contexto é o plano do sentido, do discurso, cruzado implicitamente pela referência (uma e diversa a um só tempo). O plano do sentido não pode dissociar-se da referência, sempre ausente do que é explicitado «objetivamente» (segundo o dicionário) no discurso. A referência é tanto o que orientava Sherlock Holmes em suas investigações, quanto aquilo que Holmes buscava reconhecer, para identificar o assassino. Ao dar início ao seu trabalho, o detetive sabia e não sabia do que se tratava e, por isso, cuidava (1) de enxergar sentido nas suas supostas descobertas parcelares à luz da referência que desconhecia e que, no entanto, o orientava na investigação; e (2) cuidava de se apoiar na referência, assumida como mera conjetura, ao emprestar sentido aos pormenores dos quais ia suspeitando pelo caminho. Os rumos da investigação de Holmes no futuro eram dependentes de sua avaliação no presente sobre os resultados do passado. Ao mesmo tempo, os resultados do passado, na sua avaliação do presente, eram dependentes dos rumos de sua investigação no futuro. Ou seja, tanto o problema encaminhava-se para a solução quanto a solução encaminhava-se para o problema. Um problema e uma solução auto-recorrentes: Política do Sujeito.
O mesmo ocorria com Holmes quando pedalava a sua bicicleta. Ao dar uma nova pedalada, o ciclista Holmes buscava no presente corrigir o desequilíbrio provocado pela pedalada anterior, tendo em vista, como sua referência, atingir um ponto determinado no futuro de seu trajeto (política do conceito). Assim, a correção do desequilíbrio anterior era dependente, ou estava orientada pela referência de seu futuro. Ao mesmo tempo –aqui entra a auto-recorrência– a garantia de permanência da referência de seu futuro era dependente da correção do desequilíbrio anterior.
Ou, ainda: um sonhador idealiza a realização de um sonho, e ao dar o primeiro passo na sua direção, que nele estimula uma nova visão de seu contexto, divisa um novo sonho, um novo modo de sonhar e um novo repertório de sonhos. O futuro do sonho, que ainda não se realizou por completo, já é outro: o futuro é dependente do presente. Como outro, incide no caminho de volta sobre o presente do sonhador, induzindo-a à mudança no modo de sonhar: o presente é dependente do futuro. Assim, o presente do sonhador, que já não sonha o que sonhava, incide sobre o futuro do sonho, que já não é o mesmo, processo que induz o sonhador a estimular, com a sua resposta, a mudança que vai mudá-lo.
No empenho em remover a auto-recorrência do contexto humano, para fazer evoluir a ciência da objetividade sem sujeito, os «istas», em geral, como os marxistas-positivistas, gastaram rios de saliva e montanhas de papel. Derrotou-os o exemplo do catálogo da biblioteca, enunciado logicamente por Bertrand Russell, sem que ele próprio dele tenha tirado as conseqüências em toda a sua extensão: a lógica não o permitia. Esse catálogo, que é parte da estrutura da biblioteca, tem a função, como se sabe, de fazer dele constar todos os livros nela guardados. Pergunta-se, então: de que livro constaria o próprio catálogo, já que também é um livro da biblioteca? Ora, sabemos, não há livro capaz de contê-lo, e quem o contém é a mente do usuário ou do bibliotecário –e somente ela–, que não é uma estrutura nem uma função, e sim a instância auto-recorrente: Política do Sujeito.
A prática da auto-recorrência (re-flexão) que se colhem nesses exemplos, é a mais corriqueira das experiências. Na realidade, não há outro tipo de experiência. Se disso não nos damos conta facilmente, é porque somos adestrados no seu desaprendizado formal desde os primeiros anos de escola, onde se atualiza a ideologia da objetividade funcional, ou das aspirações absolutistas das partes de representarem o todo. A escola, que prepara o cientista ou o cidadão do futuro, visa à universalidade da cidadania, em prejuízo da singularidade da pessoa. Visa à igualdade, em prejuízo da diferença. E, assim, ao apontar para o horizonte, desvia-nos o olhar do próprio nariz –do contexto, ou da auto-referência.
Não se trata de um programa inocente. Nestes séculos de liberalismo e marxismo-positivista –ideologias que professam a mesma a crença na linearidade do destino humano–, é-lhes indispensável acenar com a cenoura à frente do burro na carroça, para que continue puxando a carga e não se rebele. A quem se subtraiu, epistemologica e eticamente, a liberdade e a responsabilidade humanas, é preciso infundir a confiança de que, a exemplo da maçã de Newton que não padece de incertezas, cairá do galho por decisão e mérito próprios. A pessoa do turista, que assim se teria fragmentado, em proveito das razões soberanas dos intestinos ou do paladar, busca-se compensá-la da perda de seu sentimento de unidade com o expediente vicário de uma transcendência qualquer, o indivíduo liberal, a coisa social ou a classe operária redentora, por exemplo, que se reconheçam como capazes de contê-lo nos varais. É assim que se produzem as miragens do paraíso capitalista e do paraíso comunista. Enquanto o capitalista acena com o progresso automático, o cozinheiro hegeliano-marxista vai enrolando o rocambole temporal de sua totalidade dialética, como o vem fazendo desde o albor da história, e promete entregá-lo no futuro à degustação somente dos últimos convivas. Aos que foram convocados para a festa antes da hora, caberá conformar-se com terem feito da existência um mero esboço do que poderia ter sido e não foi. São ideologias que se dão as mãos na empreitada de remover de suas vítimas o sentido da contextualidade. E lá vai, descontextualizado, o burro, assim convertido em passarela da História, para a passagem da Idéia, da Razão, da Raça Ariana, da Revolução, do Estado, do Livre Mercado, em resumo, das políticas do conceito dissociadas da Política do Sujeito.
O escritor argentino Jorge Luis Borges vale-se da alegoria de seu conto «O espantoso redentor Lazarus Morell» para denunciar a ilusão da liberdade emancipadora pela ação do futuro. Ambientada nas plantações do sul dos Estados Unidos, no século XVI, a história narra como o cruel redentor de escravos procedia. Escolhia um negro infeliz e propunha-lhe a liberdade. Morell dizia-lhe que fugisse do dono, mediante a sua ajuda, para ser vendido por ele, numa segunda vez, em alguma fazenda distante. O fugitivo receberia então a paga correspondente a uma porcentagem de seu preço de venda. Com a acumulação do dinheiro assim amealhado, o escravo compraria finalmente a sua liberdade, das mãos de Morell. Antes, porém, que chegasse o dia da alforria, o futuro liberto era destroçado pelos capangas de Morell, seus cúmplices no processo «libertador».
A ideologia do progresso automático, capitalista ou comunista, desempenha aqui o papel orgânico de gerar, alimentar e manter o estado de salivação feérica em que se debate a vítima, em busca de resposta à exigência de uma existência plena, que somente se rende quando se deixa fragmentar. Trata-se de uma ontologia que é também uma ética: a do dever-ser, que se impõe indiferentemente à maçã da ciência e ao destino humano. O que se pretende com ela é fazer dizer sim à lei da gravidade a quem, senhor da criatividade, não está sujeito a lei transcendental alguma, senão à lei que assume na sua imanência, no reconhecimento de si mesmo em outrem.
* * *
Ora, digo com meu amigo Jorge, somente uma idéia de futuro que acene com me converter no que já sou conseguirá conquistar-me. O que está além, e se deseja, é um prolongamento de si mesmo, que é pressentido porque é também um aquém, a pulsar na intimidade do presente. A existência não se submete ao desdobramento no tempo, porque é simultaneidade e plenitude dos tempos. O mais caro desejo de alguém, de uma comunidade, de uma nação, é ser mais intensamente o que é –um ser votado a se comprazer na existência, diferentemente; pois é na eqüivalência que reside o prazer, e não na identidade do mesmo. E a intensidade nada tem a ver com a linearidade do tempo abstrato, simples autômato criado para representar a experiência da mudança. Entre converter minha sala de trabalho em sala de visita ou quarto de dormir não transcorre tempo algum, e sim uma mudança instantânea (ausência de densidade temporal) de contexto: basta, para tanto, reconhecer os diversos ambientes que nela se consigam divisar. O mesmo ocorre com meu gato «Gatozé»: de sua experiência do calor nas cinzas do borralho no fogão à lenha, ele se transfere para o calor da caixa do modem de televisão a cabo, no exercício do princípio de equivalência, sem esperar pelo transcurso do suposto tempo objetivo. E o mesmo ocorre também com as plantas em campos de lavoura: na ausência do nitrogênio biológico do solo, elas recorrem ao nitrogênio mineral extraído do petróleo, em idêntico exercício da equivalência. São seres de «mente» algébrica.
Meu mundo é um mundo interativo de ascensão exponencial. Nessa ascensão rumo a mim mesmo, admito (Política do Sujeito) subordinar-me ao que me proponho no futuro (políticas do conceito), desde que possa removê-lo em seguida (Política do Sujeito), para superá-lo, ou superar-me. Superá-lo ou superar-se segundo qual referência? A resposta e a pergunta são auto-recorrentes. E a certeza de que não estou delirando está em que sou um ser conflitante e solidário: é na alteridade (outrem) que me reconheço. A exemplo do que ocorre nos esportes, preciso reconhecer-me no recorde de outrem para ultrapassar os pontos por mim conquistados, indefinidamente, pelo prazer de fazê-lo.
Eis um sentido de competição que se refugia para dentro das atividades lúdicas, banido da praça, onde se negocia o preço da mais-valia e se acumula capital entre aqueles que ainda não foram excluídos. É preciso restabelecer o sentido da competição autêntica, da festa no lugar do espetáculo, a competição que ocorre entre os papéis de uma mesma pessoa, de uma mesma comunidade, de uma mesma nação, entre nações, competição que, em vez de levar à violência, conduz à própria exponenciação, na afirmação dos valores que lhe são caros.
Graças ao pressentimento da equivalência fruímos, com prazer no estranhamento, a diferença. É o que ocorre no amor, por exemplo. Da mesma forma, no estudo da história comprazemo-nos na ambigüidade entre o prazer de estar lá –na diferença– para onde ela nos transporta, e o de estarmos cá, onde ela já não nos alcança. Da mesma forma, gostamos de viajar, em busca do reconhecimento de diferenças, desde que possamos retornar à casa. Gostamos de desempenhar um papel, desde que nos sintamos livres para desempenhar um outro. No cinema e na literatura, entregamo-nos a viagens interplanetárias, seguros de podermos retornar ao nosso mundo.
De onde vem a ambivalência desse prazer que é também receio? De se deixar de lado o conforto sedentário e ilusório da identidade, pelo desejo, não dissociado do risco, de provar a equivalência. De provar novas experiências sem abrir mão das antigas. Assim, instalamos a existência no modo do gozo exponencial: um novo modo de enxergar a realidade leva-nos não somente a divisar um novo mundo, mas também a sentir diversamente, de modo novo, o mundo que sentíamos, para dele fruir novamente. Queremos a um só tempo a permanência e a mudança, o que foi e o que será. Sem deixar de ser passado, este é convocado pela evocação contextual a retornar ao presente, para se revelar em algumas de suas dobras, até então não reconhecidas, e testemunhar a autenticidade, a um só tempo inaugural e antiga, do novo sabor do presente. Para isso servem as pálpebras, ou a noite, como aprendemos com o poeta Omar Kháyyám: protegidos por elas, fazemos descansar no recolhimento o nosso sentimento do mundo, para sermos despertados por um outro, na descontinuidade de sua continuidade, sentimento que instiga em nós, outra vez, o desejo de nos comprazermos na existência, diferentemente.
Para desfrutar esse prazer no estranhamento, um prazer feminino por excelência, requer-se, como se disse acima, uma nova epistemologia, que faça retornar o burro aos varais e o cocheiro à boleia, uma epistemologia que não se dissocie da ética e de nenhum outro valor humano. Não como um seu apêndice, mas como um dos titulares, ao lado dos demais valores, do mesmo direito hoje reservado, de modo excludente, à racionalidade das partes. Então, não fará sentido a idéia de escassez, de uma carência intrínseca e matemática que seria preciso preencher, já que a escassez, como expressão da quantidade, é linear: estende-se na linha do tempo como uma flecha em direção ao seu alvo, sem jamais atingi-lo. Instala-se entre um antes e um depois, isolados um do outro, como abstrações fechadas em si mesmas, irresolvidos e frustrantes. Tanto não recupera o passado não vivido, quanto não entrega o futuro, medido pela mesma métrica que o transfere para mais longe ainda. Assim, a noção de escassez, além de contaminar o passado e o futuro, remove do presente o seu valor intrínseco, como momento de fruição plena, para convertê-lo numa ponte abstrata entre o que já não existe e o que não será.
* * *
A crença ilusória numa tal carência, irmã siamesa da fragmentação dos tempos, é indissociável do momento inaugural da racionalidade científica e do capital, que removeram, com a sua quantidade normativa, do espaço dos valores todos os demais, espaço no qual deveria residir a sabedoria, por definição unitária. Tome-se a solução dada por Galileu ao problema do movimento. Ao «resolvê-lo», Galileu teria lançado as bases da ciência moderna. Como o resolveu? Mudando o estado do problema, ou seja, criando sem admiti-lo um outro problema, um outro contexto, conferindo-lhe uma nova referência e novas propriedades às suas interfaces, a partir das quais pôde inferir a sua explicação derivada de seu movimento. Deixou dessa forma para trás, irresolvido, o problema da mudança, como o concebiam os medievais, na esteira da filosofia grega. Assim, Galileu reduz o problema concreto da medida da velocidade contínua do movimento ao problema da velocidade instantânea –eis aí a sua contribuição genial, sem ironia, no plano da abstração– , velocidade que não caracteriza nenhum movimento efetivo, uma vez que o corpo galileano não percorre nenhum espaço em tempo algum. A velocidade em Galileu já não é um atributo do corpo em movimento, mas é a velocidade de um corpo num determinado instante e num determinado espaço geométrico (abstrato). Observe-se que o instante, por definição, não tem densidade temporal alguma, da mesma forma como o ponto não tem dimensão espacial. A «solução» de Galileu, em vez de resolver o problema concreto e intuitivo dos medievais, mudou a natureza do problema, convertendo-o em abstrato e racional; não diz respeito ao problema concreto do movimento, por tê-lo reduzido a uma sucessão descontínua de instantes em posições geométricas abstratamente adjacentes. O instante, além de não corresponder à experiência do tempo real, não mantém vínculo real algum com o passado do movimento nem com o seu futuro. O movimento de Galileu, a exemplo de um salame, é fracionado em fatias tão descontínuas que já não se enxerga a sua continuidade. Aí estava o ovo da serpente do qual eclodiriam, séculos mais tarde, o pensamento digital, a cibernética, o pensamento único, as políticas do conceito, os duelos lógicos de que fala Gabriel Tarde, prenunciados em Parmênides e em Platão, para desconforto de Aristóteles. Antes de ser científico apenas, o problema da mudança e do movimento em Galileu, era político. Ele precisava de uma verdade tão capaz de controlar a realidade quanto a verdade do Papado.
Assim começa a idade moderna da ciência (e do capital): o movimento, de caráter abstrato (quantitativo), antepõe-se como obstáculo à percepção da mudança (qualitativa). Esse modo de escamotear a mudança, reduzida ao movimento, parece decisivo no desenho da nova percepção que a cultura ocidental dominante passa a ter desde então da relação entre indivíduo e sociedade, ou entre indivíduo e natureza, determinando o novo modo de se conceber a ciência (fragmentos de uma realidade cuja idéia de conjunto, ou referência, se perdeu). Com a mágica de Galileu, remove-se, desqualificando-o, o problema medieval e grego –não resolvido racionalmente–, da mudança, ou da metamorfose. A ciência moderna e o capital têm como seu marco inaugural um logro epistemológico e ético.
* * *
É por essa via que se torna possível aos modernos –de Newton a Darwin ou a Comte– eliminar o meio, o contexto, a relação temporal e espacial referenciada entre o antes e o depois, a continuidade e a descontinuidade a um só tempo, o estado do problema; e este, despindo-se da condição de estado para se converter apenas no Problema (sim ou não), passa então a exigir soluções definitivas, descontextualizadas, universais, totalitárias, excludentes na sua oposição, externas uma à outra: duelos lógicos. Em proveito da auto-suficiência ilusória da abstração, elimina-se o contexto, dissocia-se o sentido de sua referência –um estado de mudança, ideologicamente inconveniente por assinalar a ocorrência indesejada de um novo estado do problema no mesmo espaço da solução, indefinidamente. As Revoluções digitais (sim ou não) são definitivas, por encarnarem a marcha «necessária» da História dicotômica, capitalista ou comunista. A inconveniência, como é fácil de perceber, está nesse indefinidamente, na incerteza, na capacidade irremovível de rever o passado, que nos ensina somente o que não convém, porque o que convém está por ser criado, na incerteza, no prazer com risco.
* * *
Se o leito assumir que o diálogo entre sujeito e objeto (o outro de si mesmo) não cessa, então convirá comigo em que é preciso repensar o ideal de conhecimento –e não apenas o ideal, mas o próprio espaço categorial e ético recortado pelo termo «conhecimento». O diálogo somente cessa se se separam, isolando-os funcionalmente, os papéis do sujeito: conhecimento, de um lado, volição, de outro, por exemplo. Com a separação artificial dos papéis, ou das «funções», ou com a eliminação da distância –espaço da auto-recorrência–, entre o papel e o sujeito, tem-se a eliminação do conflito e, com esta, a eliminação da solidariedade.
Esse ideal não se realiza mediante a operação abstrativa da redução do complexo ao simples; da redução do caráter unitário da realidade a uma das facetas que se abstraem dela; da redução da realidade intuitiva da mudança à abstração racional do movimento. Esse novo ideal de conhecimento avança na direção oposta, porém includente: em vez de reduzir, busca reconhecer novas diferenças, novas facetas qualitativas na realidade, indefinidamente, de modo que a cada estado do problema tem-se o reconhecimento de uma realidade contextual mais rica e mais robusta, e não mais simples e mais esquelética. Para além de qual horizonte se pretende chegar, depois de se ter atingido o Zero ou Um? Imagine-se o grau de violência que resultaria da aplicação excludente do Zero ou Um ao amor ou à luta de classes!
Quanto mais dimensões e diferenças se reconhecerem na realidade, mais próximo se estará de sua «verdade». Trata-se, pois, de um ideal que se inscreve na dimensão da intensidade, da qualidade, e não da quantidade apenas – necessariamente finita, em contraste com a realidade, que é infinita. Onde se tem a qualidade, tem-se a singularidade, a complexidade da realidade, a sua unidade, a pessoa do turista de Veríssimo, com as suas partes conflitantes e solidárias, a Política do Sujeito.
* * *
Retomo o que deixei para trás pela metade, a explicitação das noções de referência e contexto, sem o propósito de exaurir a complexidade do tema neste tópico. Vou abordá-lo ainda uma vez mais à frente. A linguagem, ou a atividade do detetive Holmes é intencional; visa a outra coisa que ela mesma. A referência é essa «outra coisa», a respeito da qual fala o sentido produzido pela articulação gramatical; fala e a pressupõe, mas não a explicita no mesmo plano em que o sentido é explicitado. Cada novo achado na investigação de Holmes não é portador auto-evidente de sentido para o esclarecimento do crime. A chave do mistério está na referência associada ao sentido, referência ao mesmo tempo presente (implicitamente) e ausente no plano do sentido. Não a explicita, porque seu amigo Watson e as regras da gramática não admitem ambigüidade: todo sentido gramatical é unívoco. Assim, por exemplo, posso referir-me, na proposição que enuncio, à «estrela da manhã» ou à «estrela da tarde», não a ambas ao mesmo tempo, se o que pretendo na proposição é evitar que se confunda um sentido com outro. Numa mesma sentença, ambas não podem ter o mesmo sentido, mas em ambas a referência é a mesma, a estrela à qual quero referir-me. Aí está uma das razões do fascínio pela leitura de novelas policiais. Quando digo que Aristóteles é preceptor de Alexandre, não afirmo, ao dizê-lo, que é aluno de Platão, embora a pessoa de Aristóteles, o sujeito real, seja a mesma e suporte de ambos os papéis. A pessoa de Aristóteles é a referência, sempre ausente daquilo que o discurso enuncia como sentido (ser preceptor, pai, naturalista, amigo, historiador, filósofo, &c.).
Em outros termos, o sentido corresponde a uma operação de fechamento, ou de delimitação abstrata da realidade, condição para que possa ser enunciada no discurso. A referência é aberta; opõe-se ao fechamento do sentido, porque ela é a fonte inesgotável de todos os possíveis sentidos. Assim, a pessoa de Aristóteles, além de preceptor, é pai, marido, historiador, naturalista, viajante, &c., podendo apresentar tantas facetas (interfaces, papéis, «funções») quantas se podem reconhecer, num processo infindo. O sentido é o que diz a sentença. A referência é o sobre o que o sentido é dito. A pessoa de Aristóteles é o suporte referencial de mais de um sentido, enquanto o preceptor Aristóteles não o é: segundo a lógica gramatical, o preceptor é preceptor, e não pai, por exemplo.
Convém enfatizar que a referência não está compreendida unívoca e explicitamente no espaço da linguagem, embora este a pressuponha e dela não se dissocie. O espaço (código) em que se produz o sentido é limitado, ao passo que o espaço da referência é ilimitado. Isso implica que a realidade como tal não pode ser dita: ousar dizê-la é já fragmentá-la, abstraí-la mediante uma operação reducionista. A potência comunicativa de todas as palavras é impotente perante o desejo de uma declaração de amor. Holmes pode identificar o criminoso –uma figura que tem sentido para a polícia, para o juiz e para a sociedade quando esta se enxerga no espelho do Direito, que é apenas uma de suas facetas–, mas jamais se saberá à exaustão as motivações que o levaram ao crime. A operação de contagem na aritmética somente é possível porque surge da redução da realidade à dimensão da quantidade, deixando-se de fora a sua dimensão qualitativa. É da impossibilidade de se enunciar a realidade como tal (objetivar o «fato») que se alimentam as versões veiculadas na rede do mexerico do sociólogo Gabriel Tarde.
Como implicação, tem-se que a referência não pode ser objeto de consenso, pois este somente é possível no espaço delimitado da lógica gramatical, restrito à acolhida da univocidade do sentido. O consenso identitário, indesejável pelo seu caráter reducionista, aplainador das diferenças, é impossível, pois uma mesma palavra ou um mesmo sentido podem remeter a diferentes referências, da mesma forma como palavras ou sentidos diferentes podem remeter a uma mesma (presumida) referência. A referência é a instância da auto-recorrência, ou o ambiente normativo/inventivo no qual se reelaboram os sentidos veiculados pela linguagem, espaço conflitante e solidário a um só tempo, por acolher a multivocidade dos sentidos.
A atividade recorrente de reelaboração de novos sentidos corresponde à produção de novas diferenças, supostamente mais aderentes à realidade que se está enxergando. Os axiomas, que são as condições que permitem definir um objeto, são contextuais. Quanto mais se conhece um objeto de estudo, mais facetas este revela e mais muda como objeto; quanto mais se sabe, mais se reconhece que é preciso saber mais. Tomo como exemplo a experiência coletiva de degustação de um determinado vinho: quanto mais cada um dos provadores dele experimenta, num contexto comunicativo, mais diferenças de sabor, aroma, textura, cor, buquê, retrogosto, &c. surgirão entre as suas respectivas apreciações. O reconhecimento de que estão provando mais intensamente o mesmo vinho dá-se, não mediante a supressão das diferenças experimentadas –como o faz a ciência sem cabeça, graças à estatística– mas mediante a sua exacerbação e a sua valorização, necessariamente diversa em razão da não coincidência, ou da irredutibilidade dos paladares. Não há dúvida, porém, de que a referência é a mesma –o sabor do mesmo vinho. E o enunciado desse sabor somente é possível, mediante a expressão de sua diferença.
É dizer que os promotores do consenso racional deixam de ter razão quando pretendem sustar o conflito na comunicação (interação) ao pressuporem a possibilidade reducionista de um acordo definitivo, que tornaria o prosseguimento da conversação desnecessário. Reducionista, explico-me: da comunicação, que brota da percepção, necessariamente conflitante e solidária, em razão de seu caráter unitário, além da racionalidade, participam, de modo indissociável, porém distinto, outros valores, tais como as emoções, os sentimentos, a estética, a ética, o lúdico, &c. Se se eliminar a possibilidade de interação (conflito) entre as partes da pessoa do turista, esvai-se o caráter auto-recorrente de sua pessoa e esvai-se também a pessoa, pois é a auto-recorrência (ou auto-referência) que a caracteriza, e o resultado é que, agora convertida ideologicamente em coisa (em Lei, em Lacan, por exemplo), a pessoa se deixará conduzir pela soberania auto-proclamada da racionalidade dos intestinos, ou pela soberania auto-proclamada da racionalidade do paladar. O consenso é possível e necessário somente no plano da abstração, como o da aritmética, disciplina que exige de quem nela se exercita o reconhecimento da legitimidade de suas quatro operações. Mas a paz, visada pelo consenso, não pode ser construída sobre uma abstração. No plano da realidade, ao contrário, entende-se que a conversação (ou conflito) não pode ter fim.
Proponho um desafio a quem me contestar: juntem-se alguns interlocutores e definam com precisão a partir de quantos fios de cabelos perdidos na cabeça alguém pode ser considerado careca. Qual é a unidade contextual gênica? Quantas manifestações de indiferença são necessárias para esfriar uma paixão? Como separar com precisão o estado líquido do estado sólido? Com quantos paus se faz uma canoa? Quantas manifestações de cordialidade são necessárias para fazer de um estranho um amigo? Qual a intensidade necessária de sedução para Cleópatra conquistar Antônio? Em que momento termina o dia e começa a noite? Em que consiste a participação justa nos diferente usos das águas de um rio? Que valor atribuir à biodiversidade? Como separar com precisão o banqueiro do barão? Como separar com precisão a ciência da opinião? Em que ponto da superfície da água da panela sobre o fogo explodirá a primeira bolha? O mexerico contribui para a estabilidade ou para a instabilidade dos costumes?
Seria o caso de se abandonar a empreitada científica? Tanto não é o caso que o que se propõe é enriquecê-la, mediante o aporte de outras contribuições epistemológicas (e ética, delas indissociável), que capacitem a ciência a lidar com a realidade humana –não apenas a realidade das ciências humanas, mas com toda a realidade do contexto humano, a natureza e o universo.
Surpreende, como fato de cultura, que todo o empenho epistemológico e metodológico das ciências se tenha voltado para o reconhecimento do universal no particular, do igual no diferente. Por que não investir, em atenção à exigência inescapável da auto-recorrência, esforço eqüivalente no reconhecimento do singular no universal, do diferente no igual? Eis um exercício a que nos convida o espírito original da álgebra de Al Kwarismi. A sugestão não é desprovida de sensatez: não existindo situações idênticas no contexto humano, a única possibilidade de reconhecê-las é aproximar-se da singularidade, reinstalar a Política do Sujeito, hoje destituída indevidamente pelas políticas do conceito. Não teria bastado, como demonstração da insuficiência dos paradigmas determinista e experimental a experiência constrangedora de Laplace, a dos evolucionistas clássicos e dos experimentalistas?
Laplace, como se sabe, um dos criadores da Mecânica celeste, certo de que no universo existe um lugar para cada coisa e uma coisa para cada lugar, estava a demonstrar a reversibilidade das trajetórias, mediante o exemplo da omelete que voltaria para dentro da casca do ovo, quando a geometria de suas esferas celestes começou a derreter sob a ação da teoria do calor. Isso obrigou a Física a abandonar o determinismo para abrigar na termodinâmica, sem enrubescer, a probabilidade. A probabilidade, uma abstração, passou a determinar estados da matéria. Assim, a própria experiência da ciência atesta que a descontinuidade, provocada pela compensação estatística, acabou sendo absorvida pela Física clássica. Embora se trate de prestidigitação epistemológica, o caso atesta o reconhecimento involuntário de que a própria ciência, que rejeita a continuidade, precisa assumi-la magicamente, como cobertura ideológica para escamotear a sua ausência, condição para fundamentar a sua pretensão de controlar a realidade. Afinal de contas, é preciso entreter a audiência, que paga a conta e que, por não entender de teorias, confia em que a régua e o compasso sejam capazes de lhe assegurar o mesmo tipo de certeza oferecida, anteriormente, pela bola de cristal dos adivinhos e pelas poções encantatórias das bruxas.
Quanto aos funcionalistas e experimentalistas: Como explicar que a árvore pudesse estar dividida em estratos, antes que a bicharada (e a girafa) dela se aproximassem para ocupar os seus respectivos lugares? Probabilidades de quê seriam esses padrões, se se desconhece o resultado das interações entre os bichos, no seu exercício recorrente de redefinir os espaços que ocupam? Qual a garantia de que vão manter-se em seus respectivos estratos? Qual a garantia de que os estratos vão manter-se inalterados, à espera de seus respectivos visitantes? Quem assim o determinou? A vida parou? Criar padrões de probabilidades, como sugere Karl Popper, não seria um exercício tão inútil como profetizar sobre o passado? Quantos conjuntos de interações diferentes podem resultar das interações entre os papéis de uma mesma pessoa? E de um grupo de pessoas? Antes de se concluir a conta, o efeito colateral de uma nova interação sobre a rede das interações terá alterado não somente a sua composição, mas também as suas propriedades. A única realidade que conta é a da singularidade, a diferença: contexto.
Sim, reconhece-se utilidade nos padrões. Sabendo-se, com Pascal, que o nariz de Cleópatra, se longo um quarto mais de polegada poderia ter mudado o curso da história, é plausível que se busquem nas ciências sociais padrões de nariz de comprimento supostamente estabilizador. Mas ocorre tanto na política quanto em outra parte que o problema somente é real quando surge um novo nariz que foge ao padrão, em razão da mudança no seu tamanho ou do modo de apreciá-lo. O padrão tem, pois, a sua serventia circunscrita à possibilidade de a partir dele enxergar-se a diferença. Mas não se pode esquecer de que é a realidade que se busca enxergar melhor, e não o padrão, que aqui comparece somente para confirmar a sua inadequação contextual.
Eis problemas que nem de longe se encontram resolvidos no dicionário, livro que, ao registrar em palavras o significado das coisas, nos levaria supostamente a enxergá-las na sua transparência. Se isso não ocorre, é porque o sentido dissociado da referência –ainda que a lógica e os códigos o neguem–, é insuficiente para expressar a complexidade do que cada um dos interlocutores enxerga no contexto. As palavras dão-nos o significado das coisas, não o seu contexto, que é por definição o sentido associado à sua referência, ou a semântica e a sintaxe associados à pragmática, o sentido emergindo na consciência, necessariamente contextual. Embora de caráter social e cultural, o conteúdo da intersubjetividade não pode encontrar-se codificado no plano do qual ela emerge, ou estruturado em pares de opostos: o individual não emerge do social como réplica ou cópia, mas sim como nova instituição, inovação normativa e normatividade inventiva, como quebra de simetria, como expressão cultural diferenciada, única, intransferível na sua integridade, mas ainda assim comunicável, graças ao fato de o espaço da comunicação ser necessariamente multívoco, por se encontrar embebido numa prática social e cultural comum, conflitante e solidária. É por ser aberto à interpretação e à reelaboração de novos sentidos, que o conteúdo da comunicação, pretensamente unívoco por parte de quem o enuncia, torna-se multívoco ao ser acolhido diferentemente, na percepção, por cada um dos interlocutores: a comunicação não é telegrafia neoliberal ou marxista-positivista. Dialoga-se da mesma forma como Holmes investiga. Em vez de intimar a realidade a responder sim ou não perante o tribunal da ciência sem cabeça –que, assim, a constrange logicamente para dentro de sua camisa-de-força, escondendo-a em vez de revelá-la–, o investigador Holmes e os interlocutores no diálogo buscam provocá-la, de todos os modos possíveis, para que ela se revele, a desabrochar em pétalas como uma margarida. Nada aqui a ver com Heidegger, a pastorear a sua continuidade desacompanhada da descontinuidade: a realidade revela-se somente como contexto –realidade e abstração a um só tempo–, em cuja referência reconhecem-se as propriedades de seus componentes. Na ausência do contexto, não faz sentido falar-se em propriedades supostamente inscritas na realidade.
A experiência do poeta é elucidativa do papel da referência, ou da pragmática, no discurso. Na poesia o poeta busca superar o espaço e o tempo, que condiciona a sua busca de expressão estética, para se alçar à transcendência e assim se fazer entender pelo seu público. Como toda expressão, a poesia é o produto da materialização da experiência do poeta mediante a palavra –o poema. Ao incorporar uma sugestão de mudança em seus versos, chamando atenção do leitor para a referência implícita no poema, o poeta materializa um modo de fazer, que se projeta como um desejo de mudar o modo de fazer de seu público; e este, ao mudar eventualmente, em conseqüência, irá estimular mudanças no modo de fazer do poeta, e assim por diante. O diálogo entre público e poeta, conflitante e solidário, que transcorre não somente no plano do sentido mas também no plano da referência, mediante a remissão das palavras do poema a ela, não cessa, a menos que a racionalidade de Habermas intervenha para silenciá-los, suprimindo assim a oportunidade enriquecedora de emergência de novas diferenças, de elaboração de novos sentidos e de novas referências. O monólogo, ou o pensamento único, impõe-se quando se elimina a referência, a auto-recorrência, a instância crítica (crítica não somente racional, mas integral, ou seja, epistemológica e axiológica).
Reportando-me à noção de processo que venho utilizando, posso dizer então que o sentido instaura-se e se move somente no plano da abstração (não dissociado do plano da realidade, que é a sua referência) enquanto a referência situa-se no plano da realidade, que também inclui o plano da abstração, uma vez que a realidade é tudo. A pessoa de Aristóteles, como fonte (social e singular) geradora de sentidos possíveis, é a realidade, a referência; os seus papéis são abstrações, que não se dissociam embora se distingam de sua pessoa e tornem possível falar-se dela. O ser humano é a referência última e intransponível da existência: a ele tudo se reporta e dele nada se exclui. É o ponto de indução, como diriam os matemáticos.
O equívoco dos intestinos e do paladar, na sua pretensa auto-suficiência, é assumir que a solução deve ser completa (Zero ou Um), consoante com o previsto na ordenação racional de seus respectivos sistemas. Eles não suportam o drama, a tensão, a expectativa, a transição, a incerteza, o risco, o prazer e o encantamento, que fascinam a pessoa do turista e o leitor de novelas policiais. (O risco, aqui, é medido pela quantidade de esforço despendido na direção não desejada).
Por força de uma auto-sujeição ideológica que dura há séculos no Ocidente branco e cristão, sujeição ao pensamento linear, não se admite como propriedade intrínseca e irremovível do contexto a idéia de conflito. A ciência dos conceitos foi criada para eliminá-lo. O mundo ordenado pela lei divina, na qual se inspira Newton, é equilibrado; não é conflitante: o pardal não bota ovo no ninho do tico-tico, nem Odisseu hesita entre dois amores. Por isso, a ciência sem cabeça não enxerga a complexidade da realidade, como o mostrou Espinosa. Aprendemos com Espinosa que resolver o problema implica necessariamente não resolvê-lo por completo, e sim embeber a sua solução no espaço do problema, que configura por sua vez uma nova solução e um novo problema, e assim indefinidamente. O apetite desperta o desejo de saciedade e este, o apetite. É nesse sentido que se fala em estado do problema –a sua descontinuidade na sua continuidade. A despeito das aparências, o problema e a solução não mantêm entre si uma relação linear e seqüencial; são, ao contrário, simultâneos e coextensivos: disputam o mesmo espaço de possibilidades, conflitante e solidário. Vejam-se os casos de Holmes detetive, de Holmes ciclista e do sonhador. Veja-se caso do turista. O desejo de viajar é a solução visada pelo turista; o problema gerado pela solução instala-se nesse mesmo espaço (o da solução) na forma de exacerbação do conflito entre o paladar, que insiste em partir, e os intestinos, que insistem em permanecer em casa. Vislumbra-se associado ao conflito a presença da solidariedade, que se expressa na necessária coesão entre os opostos, a sua unidade, que é a pessoa.
Uma passada de olhos pela história das idéias vai mostrar que o grande espantalho que sempre apavorou e apavora filósofos e cientistas do conceito é a incerteza –daí a sua necessidade compulsiva de delimitar, de separar, mediante o princípio da identidade, o cristal da fumaça. A criação da ciência atende a uma evocação nostálgica da onisciência divina, de caráter providencial. Ao longo dos séculos desperdiçou-se um gigantesco esforço intelectual para remover a incerteza do horizonte humano. E, ao fazê-lo, militou-se, ipso facto, pela remoção do prazer, que somente é prazer se associado ao risco. Mas o fato é que tanto no caso da maçã da ciência quanto no caso do ser humano, não há prazer algum em cumprir um destino que se limita a cair do galho. Cada um de nós quer dar-se o prazer, não isento de risco, de traçar o destino a gosto, exercitando-se, não na liberdade da maçã, que é nenhuma, e sim na liberdade contextual, que abre para a existência humana a oportunidade de jogar o jogo de criar regras de jogo, de acordo com a referência do contexto em que se está.
Odisseu, náufrago, não sabe se conseguirá retornar à casa. Essa é, por excelência, a imagem da condição humana. Tanto teme deixar-se prender pelos encantos de Calipso, que lhe oferece o leito e a imortalidade, quanto, desejoso de cair nos braços de Penélope, receia tornar-se vítima das maquinações do deus Possêidon, que espreita a passagem de sua nau para convertê-la em rochedo. Decidir-se –eis o que caracteriza a humanidade de Odisseu, que assim procede orientado pelo desejo (referência) de se comprazer na existência. Por incidir sobre o plano orientado da abstração, a decisão é um salto no abismo: se a decisão de partir da ilha de Ogigia implica deixar Calipso, não lhe entrega no ato a sua Penélope. No novo espaço aberto pela decisão, instala-se o risco de retomar a travessia por mar.
Possêidon infunde temor a todos os navegantes. Desse temor brota o desejo ilusório de se controlar a realidade. Dessa ilusão nasceu a cibernética, que sonha com converter o mar em geleia, para desencanto do surfista. Embora sempre orientada pela referência do desejo de se comprazer na existência, a realidade é incontrolável quando as interações entre os papéis ocorrem livremente, sem constrangimento; quando o turista ouve, sem emitir juízo anestesiante, as razões de seus intestinos e as razões de seu paladar. É possível precaver-se da adversidade climática porque não se controlam as condições térmicas, as condições hídricas, a intensidade luminosa, a duração do dia, os fatores químicos e os fatores mecânicos que nela intervêm. Se se pudessem controlar os ventos, a umidade, o calor, a formação de nuvens, &c., não se desenvolveria a perspicácia de suspeitar da iminência da chuva, prevenindo-se com o guarda-chuva. O surfista não desfrutaria do prazer, não isento de risco, de surfar.
O desejo cibernético de controlar a realidade inspira-se equivocadamente na auto-regulação do clima, dos ecossistemas ou da célula. Na mesma tentação e equívoco incorreu Pinóquio, ao se acreditar livre de sua dependência, como criatura, do carpinteiro Gepeto. As desventuras de Pinóquio são a história tragicômica de uma abstração que se proclamou auto-suficiente. Não é preciso a intervenção de ninguém para que a concentração de oxigênio na atmosfera seja constante, para que a temperatura da Terra se mantenha, para que a composição dos oceanos seja a mesma. Tais sistemas são abertos, o que significa dizer que mantêm interações permanentes com o meio, com o qual trocam energia, matéria e informação. Um sistema aberto seria uma espécie de reservatório que se enche e se esvazia à mesma velocidade, mantendo-se a água no mesmo nível, enquanto o volume de entrada e de saída permanece o mesmo. É a esse mesmo êxito na auto-regulação dos processos naturais que aspira a ideologia do equilíbrio – com a diferença, essencial, de que, para realizá-la, suprime o papel do meio no qual se dão as interações, para evitar que elas ocorram fora de controle de quem acredita poder controlá-las. O carpinteiro Gepeto foi mais esperto na modéstia de seu propósito criador, ao convocar a fada para soprar o sopro da vida em sua criatura.
Na história das tentativas de se controlar a realidade, mediante a entronização de uma abstração auto-reguladora, a mais cínica, a mais cruel, a mais trágica, a mais despudorada é a ideologia do equilíbrio, que orienta a física, as ciências em geral e o ideário neoliberal. Emergiu de um contexto no qual interessava à ideologia do capital assegurar o controle da situação social e política, num mundo em transição, infundindo à sua pretensão de hegemonia e estabilidade no comando a auto-ilusão da perenidade. Karl Polanyi encontrou-a formulada, de modo lapidar, na parábola de Joseph Townsend (1786). A parábola vem à cabeça de Townsend nos primórdios da Revolução Industrial, quando o capital, em vez de promover o bem-estar de todos, como prometido, produzia riqueza de um lado, gerando miséria de outro, a exemplo da caldeira da locomotiva a carvão, que gera energia, acumulando cinzas no borralho.
O cenário da parábola é a ilha de Robinson Crusoe, no Oceano Pacífico, próximo à costa do Chile. O aventureiro Juan Fernandez, que teria inspirado a idéia da novela a Daniel Defoe, deixara nessa ilha algumas cabras e bodes, para que se pudesse comer a sua carne em caso de visitas futuras. Os animais multiplicaram-se em proporção bíblica, convertendo-se em estoque de alimentos facilmente acessíveis aos corsários, na maioria ingleses, que molestavam o comércio espanhol. Para afugentá-los, as autoridades espanholas fizeram introduzir na ilha um cão e uma cadela, que também se multiplicaram na velocidade do Gênese, reduzindo o número de cabritos. «Um novo tipo de equilíbrio se estabeleceu», escreve Townsend, em favor de seu argumento, na discussão da Leis do Pobres, de que os pobres, rejeitos da Revolução Industrial, deveriam ser abandonados à própria sorte. «Os mais fracos de ambas as espécies foram os primeiros a pagar o seu débito para com a natureza; os mais ativos e vigorosos conservaram suas vidas» (Leia-se na Internet «A dissertation on the Poor Law», de Townsend).
O equilíbrio, para o controle das populações entre ambos os grupos de animais, ocorria da seguinte maneira. Os cães, famintos, perseguiam os cabritos que, para fugir, subiam nos altos penhascos, inacessíveis aos perseguidores. Lá em cima, os cabritos sentiam-se no desespero entre morrer de inanição e descer à planície, para sem devorados; enquanto na planície, para não morrerem de inanição, vociferavam os cães, à espera de abocanhá-los, quando vencidos pela fome.
No paradigma social de Townsend, que acena com o mesmo débito animal e cultural para com a natureza, não se consegue enxergar a diferença entre a sociedade animal e a humana. Confunde-se, identificando, a auto-regulação, pressuposta em ambos os mundos. Ambos estariam igualmente sujeitos à lei do equilíbrio, que regula também o equilíbrio entre a população de cascavéis e ratos, chacais e antílopes, gaviões e colibris –toda a natureza e a humanidade girando sanguinolentamente em torno de seu eixo cósmico, azeitado por Newton com a almotolia de Deus, a quem se atribui essa sinfonia carniceira, porém equilibrada. Tem-se na naturalização humana da fábula a mais grotesca e macabra homenagem prestada por um ser humano à capitulação da própria inteligência. É preciso que se esteja tomado de um desespero puritano infinito, de um ódio calvinista à Criação, ao mundo e a si mesmo para aspirar do mais profundo da alma a um mergulho tão abissal na imobilidade da coisa, a abstração auto-suficiente.
Um tal delírio retira a sua investida suicida da suspeita de que o seu cobertor é curto para cobrir a extensão da realidade e, para se convencer da verdade dos cartógrafos de Borges, recorre à lógica, que lhe fornece os seus opostos excludentes. Com a lógica, ele remove para baixo do tapete a parte sobrante da realidade, a diferença, que a sua abstração não consegue abarcar. Como, porém, as sobras, renitentes, insistem em se manifestar, desvelando as zonas de sombra que a sua abstração intenta camuflar, ele reage enquadrando na sua abstração não somente o universo conhecido, mas também o universo de todos os possíveis. Conhece por antecipação, para não se surpreender perante o reconhecimento de uma diferença entre a sua abstração e a realidade. Dispõe previamente de todas as respostas, antes que sejam feitas as perguntas. Mobiliza e coloniza todos os sistemas racionais de explicação, que têm a função de corroborar a sua verdade delirante, perante um mundo agora ameaçador. Lembra o louco de G. K. Chesterton que, por ter perdido tudo menos a razão, enxergava intenções conspiratórias no farfalhar das cortinas na janela. Assim, a realidade, que antes se lhe apresentava como uma paisagem a desfrutar, com risco porém, assume agora a expressão sintomática, capaz de levá-lo a realizar a tempo o diagnóstico perturbador. Como diz a canção, «Depois que aquela mulher/ me abandonou/ não sei por que/ minha vida desandou/ o canário morreu/ a roseira murchou/ o papagaio emudeceu/ e o cano d' água furou...» (cf. Herrmann, F., 1998). Um diagnóstico que o incita, na espiral do delírio, a buscar controlar ainda mais a realidade. Ante a evidência do insucesso recorrente, o delirante acaba por votar ódio à realidade, ou a si mesmo, o que é a mesma coisa –aí estaria o motivo do ressentimento e do rancor em que se encontra embebida a alma de todas as ideologias.
Recorro ainda a um exemplo, para elucidar a evidência. Na pressa aparentemente cordata de celebrar a vida, o biocentrismo –ideologia atualíssima entre ecologistas, que suprime toda diferença entre o mundo humano e animal–, reduz a singularidade da existência humana a um produto abstrato da espécie, que recorreria ao indivíduo apenas como oportunidade de afirmar o seu triunfo impessoal. Assim, a existência, o seu estatuto singular, anterior a toda abstração, desaparece nessa participação igualitária e vicária num universal desprovido de sentido, desgarrada de qualquer contexto que permita reconhecê-la, e reconhecer-se, como humana. Não há dúvida de que a existência humana lança areia nas engrenagens da Criação, mas daí concluir com os primitivistas que é preciso suprimi-la, para que se restabeleça o equilíbrio cósmico, é abdicar da própria inteligência e da ética.
O delírio –ou a abstração racional isolada do sentimento e dos demais valores– não tolera a diversidade de percepções de uma mesma realidade. Ou se impõem as razões dos intestinos, ou as do paladar: duelos lógicos. O delírio ambiciona representar tudo mediante a utilização de um sistema explicativo único, enquadrar e controlar a realidade, a exemplo do lendário ladrão Procusto, que cortava ou espichava os membros de suas vítimas, para que se ajustassem ao leito em que as prendia: Zero ou Um.
Controlar a realidade é eleger um dos papéis, entre todos os que interagem no contexto, para assumir o comando, estabelecendo-se uma hierarquia de poder entre eles –é o parâmetro, na linguagem cibernética. Sob o parâmetro, a realidade dobra-se ilusoriamente à vontade humana, como o mar se dobrou à vontade de Moisés. Como parâmetro, tem-se na história da antropologia, por exemplo, o vezo, contemporâneo do advento da termodinâmica, de escandir no diapasão energético todos os contextos culturais. Assim, a complexidade da existência humana explica-se, de modo reducionista, pela sua habilidade de afiar a ponta de uma flecha, acionar um moinho de vento, uma máquina a vapor, uma usina nuclear, ou de confiar a administração de uma empresa aos chamados softwares de gestão (realejos cibernéticos). A inspiração do modelo energetista, que empolgou tanto a Marx quanto a Freud, vem de sua consolidação realizada por G. Oswald, criador da físico-química, a explicar todos os fenômenos a partir do papel que a energia desempenha no contexto humano. Auguste Comte acreditou em poder explicar e manipular o mundo graças à sua lei dos três estados e ao paradigma da física; os cardeais, pela tradição da Igreja e pelos dogmas do papado; Freud, pela libido sexual; Lutero e Calvino, pela briga entre Deus e a sua criatura, o Diabo; Vilfrido Pareto, pelo equilíbrio cósmico e pelos «resíduos», ou parte obscura da natureza humana; os fisiocratas, pela economia; Cesare Lombroso, pela hereditariedade; Osvald Spengler, pelos ciclos naturais; Levy-Strauss, pelos duelos lógicos inscritos no cérebro; G. Wundt, pela consciência coletiva; Carl Jung, pelos arquétipos coletivos; Durkheim, pela física, ou coisa, social; Konrad Lorenz, pelo instinto de agressão; Quincas Borba, pela humanitas; Simão Bacamarte, pela racionalidade científica; e o conde de Gobineau, pela «raça dos loiros dolicocéfalos da Inglaterra, Bélgica, norte da França e Alemanha»; e outros pensadores unicórnios, por outros emplastros mentais. Todos eles de olhos ofuscados por suas próprias metáforas, genitoras de historicidades e de conformações retrospectivas da realidade a partir de seu próprio umbigo; todos sinceramente convencidos de que o turista de Veríssimo não dispõe de outra alternativa: ou o paladar, ou os intestinos. Políticas do conceito.
* * *
Como dizem Deus e o Diabo em um dueto de sua opereta, não existe começo. A sua primeira edição da opereta já é uma nova edição revisada de alguma das edições anteriores, também revisadas. O ser humano é uma errata pensante, observa um dos personagens de Machado de Assis. No começo era a ação, ou seja, a diferença.
* * *
Num sonho em que deparei Simão Bacamarte –não mais o louco que Machado conhecera, mas um Bacamarte refeito de sua insanidade– ouvi-o perguntar-se: «Por que o macaco deveria ter-se posto de pé, em seu novo papel de Homo erectus, liberando os membros anteriores, apenas para empunhar uma ferramenta? Não poderia tê-lo feito ao mesmo tempo para se entregar mais confortavelmente ao amor? Uma vez liberto do constrangimento quadrúpede, por que deveria ter-se decidido primeiro suar a golpes de machado no trabalho, para somente em seguida suar de prazer na cama? Como explicar que o Homo ludens tenha saído de casa para se divertir com uma briga de galos e se tenha deixado levar pelo desejo de prender a galinha, que ciscava desatenta no espaço da rinha, para comer-lhe os ovos, comportando-se a um só tempo também como Homo faber? Marx não foi feliz na escolha da locomotiva como metáfora de sua antropologia filosófica. Prefiro a metáfora do artesão. Tanto a mente, em seu aprendizado, tem a ensinar às mãos quanto estas àquela, num processo recorrente. Entre as mãos e a mente, não é possível decidir sobre o que vem primeiro». E antes de desaparecer, Bacamarte advertiu-me de que era o que bastava para se desenhar um programa de auto-gestão da vida quotidiana, ou para se definir uma Política do Sujeito.
* * *
Na literatura antropológica, a sociedade primitiva parece ter-se dado conta de que é grande o risco da violência quando se hierarquizam os papéis e se confere auto-suficiência ao plano dos duelos lógicos. Por isso, sem renunciar a eles, ela protege-se contra toda tentativa de divisão de seu corpo social. O chefe guerreiro nele não exerce poder algum de comando. Para se assegurar de sua unidade, o corpo social faz da paixão guerreira uma aspiração de prestígio, incitando assim o guerreiro a seguir sempre em frente, em busca de um prestígio maior, de um desejo de glória que o conduz à morte. Desse modo, evita-se que ele traga a infelicidade para dentro da sociedade, ao introduzir nela o germe da divisão, tornando-se um órgão separado do poder Clastres, P., 1980).
A divisão e o poder nela se estabelecem somente no momento em que o grupo organizado de guerreiros profissionais consegue transformar a situação da sociedade primitiva na situação particular da sociedade de guerreiros. A partir desse momento, o poder de decidir sobre a guerra e a paz já não pertence à sociedade como tal, para pertencer à confraria dos guerreiros, que coloca seu interesse particular acima do interesse comum, fazendo prevalecer seu ponto de vista sobre o ponto de vista geral da sociedade. A contradição interna nela se instala, opondo de maneira radical o desejo de unidade do corpo social, de um lado, e o desejo individual do guerreiro, do outro, para quem todos os meios são bons para aumentar a sua glória. Em momentos agudos desse conflito, relata-nos Clastres, a vontade de dar a morte choca-se com a recusa de dar a vida: as jovens indígenas do Chaco não querem ter filhos, embora desejem esposar os jovens guerreiros.
O poder hierárquico, por definição, assenta numa usurpação. Nas democracias modernas, a pessoa consente em abrir mão de seu próprio poder, confinando-o aos limites da cidadania. Dela fazendo uso para chegar ao poder, os homens de Estado não relutam em investir contra ela, pondo assim em risco a unidade da sociedade; em resposta, a sociedade reage, como corpo indiviso, para impedi-lo.
Na história das instituições políticas, o drama vivido pela sociedade primitiva de Clastres encontra o seu desfecho evolutivo, esquematicamente, em direções opostas, uma que exalta e fortalece o poder do Estado, outra que o assedia e o subverte, estimulando a diversificação e o fortalecimento dos centros de poder, como um seu contrapeso. Nas sociedades modernas, a promiscuidade entre o Estado e os interesses do capital tem levado ao paroxismo a tendência de se fortalecer o Estado, como guardião das regras do livre mercado, contra a sociedade.
Como exemplo paradigmático dos dois tipos de oposição, têm-se na Grécia antiga os casos de Atenas e Esparta, cidades-estados rivais. Observe-se, porém, que os gregos em geral não chegaram a distinguir claramente Estado e sociedade, plano político e plano social, cidadão e pessoa. A cultura espartana, expressão da uniformidade, dará origem a um tipo de organização da sociedade que tende a fortalecer o Estado. A cultura ateniense, expressão da diversidade, dará origem a um tipo de organização do Estado que tende a fortalecer a sociedade. Em ambos os casos, a emergência do Estado expressa-se na separação das funções. Essa separação embrionária levará nos casos extremos, ao longo da história, ao divórcio entre Estado e sociedade. Limitemo-nos a registrar a separação das funções, deixando de lado os demais processos intervenientes no contexto.
Em Atenas, único ponto da Grécia em que a continuidade da época da realeza palaciana não é rompida de forma brutal, a presença ao lado do rei, do polemarca, como chefe dos exércitos, já separa do soberano a função militar. O comando conquista a sua independência e define uma realidade propriamente política. O sistema de eleição do polemarca, inicialmente por dez anos, e depois a cada ano, implica uma concepção nova de poder. O comando é delegado por uma decisão, por uma escolha que supõe disputa e discussão. Essa delimitação mais estrita do poder político, que toma a forma de magistratura, relega o sacerdote para uma função especificamente religiosa.
À imagem do rei, senhor de todo o poder, que unificava e ordenava os diversos elementos do reino, sucede a idéia de funções sociais especializadas, cujo ajustamento cria difíceis problemas de equilíbrio, que precisam ser resolvidos dentro dos limites civilizados da discussão. Surgem, então, as questões iniciais da filosofia política, ensina-nos Jean-Pierre Vernant (1973): Como uma vida comum pode apoiar-se em elementos discordantes? Como, no plano social, manter a unidade na diversidade? Está-se diante de uma nova situação em que se enxerga o Estado como uno e homogêneo, enquanto o grupo humano é diverso e heterogêneo.
O problema não era estranho à matriz mitológica grega que, na sua cosmogonia, fazia o uno sair do múltiplo e o múltiplo do uno. Ou seja, originalmente, em outro contexto, não era um problema. Se ele é formulado agora, nos primeiros esboços da filosofia política, é porque se supõe que os mitos encontram-se em vias de deixar a vida pública, para se recolherem à história, para dentro das obras de Homero, sem se advertir de que outros deverão tomar o seu lugar. Eis a ilusão inaugural da reflexão filosófica. Poder de conflito e poder de união, entidades divinas opostas e complementares, são dois pólos que marcavam a vida social no mundo aristocrático, embebido no mito e anterior à democracia, que sucede às antigas realezas. Nesse mundo, a exaltação dos valores de luta, de concorrência e de rivalidade associa-se ao sentimento de dependência para com uma só e mesma comunidade, para uma exigência de unidade e de igualdade. Hesíodo observa, em «Os trabalhos e os dias» que toda rivalidade supõe relações de igualdade: a concorrência jamais pode existir senão entre iguais.
«Esse espírito igualitário é um dos traços que marca a mentalidade aristocrática guerreira da Grécia e que contribuiu para dar à noção de poder um conteúdo novo. A política converte-se numa disputa oratória, um combate entre argumentos cujo teatro é a praça pública, antes de ser um mercado. Trata-se de uma prova de forças, palavra contra palavra, num torneio sujeito a regras, comparável ao que põe em combate os atletas no curso dos Jogos. Assim, o comando não poderia mais ser a propriedade exclusiva de quem quer que seja. O Estado é precisamente o que se despojou de todo caráter privado, particular que, escapando à alçada das famílias guerreiras, aparece como a questão de todos...» (Vernand, J-P., 1972).
A vida mitológica no Olimpo já prefigurava uma exigência humana de justiça, que cabe agora ao Estado não separado da sociedade distribuir. Violência e Justiça são os dois acólitos de Zeus, que não deveriam afastar-se um instante de seu trono, porque personificavam o que o poder soberano comporta de absoluto, e passam agora a personificar a Lei, uma tentativa de estabilizar o conflito, equilibrar as forças sociais antagônicas, ajustar atitudes humanas opostas. A injustiça engendra a escravidão do povo e esta provoca a sedição. Por isso, a sabedoria de Sólon, o legislador de Atenas que recusa a tirania que lhe é oferecida, é celebrada: ele uniu, sem descaracterizar a sua oposição e a sua solidariedade, a Violência e a Justiça, na Carta que outorgou aos atenienses.
A solução proposta por Sólon, sobre a qual assenta a democracia ateniense, retira formalmente a sua matriz do mundo mitológico de Homero. É preciso deter-se aqui para compreender como foi possível, na democracia moderna, saltar da diversidade na unidade, que teria presidido à sua origem, à uniformidade que agora se nos apresenta como a sua negação, na forma de pensamento único, ou sujeição dos valores humanos e democráticos às regras do livre mercado. Isso vai obrigar-nos a fazer uma digressão sobre a formação do homem ocidental moderno.
Na origem da formação do homem ocidental moderno, dois tipos de predisposição moral antagônicos fertilizam-se mutuamente para modelá-la: os valores helênicos e os valores judaico-cristãos. A afirmação de uns constitui a negação de outros. Para ambas as tradições, no entanto, os ideais da perfeição são igualmente infinitos.
Para a tradição judaico-cristã, a distância entre o homem e Deus é infinita. O homem, a partir de sua pequenez e de sua finitude, só alcança a graça por bondade divina. Ele jamais poderia almejar estar na presença de Deus, possibilidade que este lhe oferece e que deve ser conquistada por esforço moral. É Deus quem, exercendo seu narcisismo na forma de infinita bondade, concede ao ser humano o prêmio celeste por seu comportamento virtuoso (obediência ao dever-ser da lei divina). Assim, para a tradição judaico-cristã, a elevação moral é obtida pela prática da virtude. A virtude é a força moral para se fazer o que é bom. Bom é o que é absolutamente bom, sempre bom, não importa o contexto, pois emana da vontade absoluta de Deus. Bom não é beber água quando se tem sede –é fazer o que se deve fazer por disposição divina, mesmo a contragosto. O Bem é transcendental, do outro mundo. Ao ser humano resta a obediência: essa é a sua virtude (Auri Cunha, J., 1997).
Já para a tradição herdeira do mundo de Homero, a distância entre os homens e os deuses não é infinita. Existe uma continuidade entre todos os seres, das pedras aos deuses, passando pelos animais, pelos homens e pelos heróis míticos. Quanto maior o grau de nobreza adquirido pelo ser humano, maior seu grau de parentesco com os deuses. Estes, além da imortalidade, possuem apenas alguns graus a mais de nobreza, coragem, bravura e justiça, em relação ao ser humano.
Bem e Mal não são transcendentais ou absolutos. Não se situam no outro mundo, mas surgem e devem ser apreciados no contexto da ação humana. Bem e mal são valores cujo sentido varia de acordo com a variação do contexto, que tem como referência necessária o ser humano. O que é bom e o que é mau depende do que o ser humano eleja como fim da ação moral, do que pretende fazer de si mesmo. Na visão de Sólon, a justiça, desejável para quem vive em sociedade, embora se apresente com ressonância religiosa e transcendental, aparece como uma ordem natural que por si mesma se regulamenta. É a maldade dos homens que produz a desordem, sua sede insaciável de riqueza. A justa medida para restabelecer a ordem, que cabe ao ser humano buscar, deve quebrar a arrogância dos ricos e fazer cessar a escravidão do povo. Como aponta a esperança no fundo da caixinha de Pandora, existirá sempre a possibilidade de o ser humano reconhecer a justa medida, depois de explicitada pelo sábio, mesmo que a lição seja momentaneamente rejeitada (Vernant, J-P., 1973).
Assim, para Sólon e Homero, o destino do homem está em suas mãos e é jogado na Terra. A busca da transcendência limita-se a alcançar maior proximidade com os heróis míticos e os deuses. Por isso, o princípio de sua educação era a excelência, a força e a nobreza dos sentimentos. O grego do período anterior ao advento da filosofia socrática (a busca da moral do dever-ser) desconhece a obediência como atitude moral. Orienta-o a auto-superação, o ideal de beleza, de coragem, de amizade, de honra, de glória e de sabedoria, ideal que ele retira não de um além, mas da competição entre os melhores, como ocorre nos jogos olímpicos. Esse é o motivo por que o homem grego se tinha em alta conta: submeter-se a qualquer vontade, mesmo divina, era-lhe uma ignomínia, uma vergonha (Vernant, J-P., 1973).
O mito judaico-cristão do pecado e da queda, do castigo de Adão e Eva, com a sua expulsão do paraíso e a sua condenação a obter o alimento com o suor de seu rosto, contrasta com o mito prometeico de maneira flagrante. O mito de Prometeu celebra a dimensão moral do ser humano, a liberdade com que assume o próprio destino. Segundo o mito grego, a humanidade conquista o que há de mais valioso para a civilização –o fogo– à custa da ousadia criminosa de roubá-lo aos céus, conferindo dignidade humana ao sacrilégio divino. Segundo o mito judaico-cristão, a origem do Mal está num cortejo de sentimentos negativos, da mentira e da cobiça. O que para o judeu-cristão é pecado merecedor de castigo, que o afasta do céu, para o grego é virtude sublime e eficaz, que o aproxima do Olimpo. É como se o homem grego, para se alçar à condição humana, devesse conquistá-la aos deuses, escapando às disposições de um roteiro transcendental preestabelecido, para inaugurar na Terra um destino propriamente seu; ao passo que para o judeu-cristão, feito com barro do outro mundo, condena-se a viver exilado num vale de lágrimas um destino que não escolheu. Aqui, está condenado à lei da coisa, ao dever-ser de uma moral que não é a sua. Por isso, a sua ascese e a sua educação deverão consistir da remoção do sentimento de si mesmo. Leia-se: da remoção do que haveria de desprezível dentro de si, para se dedicar ao amor ao próximo; da renúncia às delícias terrenas que, diabólicas, insistem em sujar-lhe a alma de mundanidade, que paradoxalmente faz dele um ser humano.
Para evitar que isso ocorra, é preciso sair em busca de uma verdade enlatada, à prova do tempo e da ferrugem. Disso se encarregará a filosofia de Platão, origem de uma das vertentes do dogma cristão. A vantagem da lata é que ela presta-se à conservação por tempo indefinido de todo tipo de respostas para perguntas que não se sabe quais são. Seu conteúdo consiste de um conjunto de respostas estereotipadas predefinidas, que correspondem a soluções prontas para problemas que se desconhecem.
Ao contrário da visão grega, que exalta, celebra e se compraz no prazer sem culpa, a visão judaico-cristã, culpada e condenada, não se detém na fruição criativa, obrigada que está à lei do dever-ser, que perdoa somente se o cristão a ela se submete renunciando a si mesmo. Para um grego, o que distingue o animal do homem é que este é capaz de desfrutar do prazer de beber vinho e partilhar o seu pão com o hóspede, enquanto para o judeu-cristão a distinção está no suor bíblico e na culpa, ele que teria sido concebido para desfrutar as delícias do paraíso.
Mas mesmo nesse estado febril de culpa, que mantém o judeu-cristão quase exangue, é possível entrever sinais vitais, uma evidência de que a realidade não se rende, por mais que a mutilem. Os sinais expressam-se na exacerbação do desejo, que resulta de sua incapacidade de se decidir entre a virgem inatingível e a puta desprezível. A perfeição não é grega; é de natureza monoteísta, escatológica, moralista e ontológica.
Diferentemente da visão grega, em que deuses e homens estão no mesmo barco, em razão da continuidade da realidade unitária do mundo, na visão judaico-cristã, de realidade descontínua, existe uma não equivalência entre o estatuto de Deus e o do homem. Enquanto o cristão pode perder-se e extraviar-se do plano da Salvação, Deus, não. Um livre e soberano, está acima de qualquer destino; o outro, miserável e indigno, exerce a sua «liberdade» no espaço normativo do sim e do não da maçã newtoniana. Está proibido de imitar o seu Criador, imitando também, criando outros jogos eqüivalentes de sim e não, com os quais possa entreter-se.
O mesmo conflito entre as duas visões manifesta-se, em esboço, já no interior da filosofia grega e expressa-se exemplarmente na divergência entre a filosofia política de Aristóteles e a de Platão. Ambos refletem sobre o modo de pensar dos sofistas, para rejeitá-los. Os sofistas, mestres da oratória, que ganhavam dinheiro ensinando retórica a quem queria fazer da política uma profissão, defendiam em geral a idéia de que a qualidade que se buscava para a verdade tinha a sua matriz na política, no diálogo incessante que a caracteriza –no acordo de ocasião entre pontos de vistas conflitantes, conflito que não convinha eliminar, um acordo em princípio renovável de forma recorrente, quando da mudança de contexto.
Platão, inconformado diante da instabilidade da democracia ateniense, buscava para a vida política da cidade uma verdade com fundamentos tão sólidos como os axiomas da matemática, para ele de origem divina. A sua filosofia traduz-se na tentação permanente de suprimir o diálogo para, em seu lugar, consagrar o monólogo. Chegou a admitir a diversidade sob a condição de que esta pudesse ser estruturada em hierarquias fixas. Insatisfeito com ambos os tipos de resposta, Aristóteles acreditou poder desbravar uma nova solução –mas, como nos mostra Barbara Cassin (1999), ficou a meio caminho entre uma visão e outra. Assim, o filósofo que construiu a mais poderosa máquina de moer sofistas, rendeu-se à dificuldade de reduzir o diálogo ao monólogo, quando na sua Política volta as suas baterias contra Platão, para desmanchar-lhe as hierarquias fixas. Ao advogar contra Platão que a política na cidade define-se como uma polifonia de vozes, a partir de cujas diferenças obtém-se um efeito harmônico, Aristóteles toma o partido dos sofistas. Rejeita, assim, a homofonia, ou o monólogo, que converterá, estranhamente, em fundamento de sua lógica e de sua metafísica. Como se disse, foi ele o criador do princípio lógico da identidade.
Ao contrário de pensadores como Platão e (em parte) Aristóteles, que fazem da abstração um duplo da realidade na forma de pensamento transcendental, os sofistas viam na reflexão sinais de humanidade, ao conceberem a verdade como resultado de um processo coletivo e prático de construção recorrente. Dessa forma, a sofística destitui da fala humana o dom demiúrgico de enunciar adequadamente a realidade. «O homem é a medida de todas as coisas», afirmou o sofista Protágoras, para estupefação de Platão, que põe na boca de Sócrates a sua desaprovação, ao perguntar ironicamente por que, em vez do homem, a medida não poderia ser o porco ou o cinocéfalo. Uma objeção a que os sofistas haviam respondido previamente: a verdade somente poderia ser colhida no espaço do discurso, um espaço disputado por falantes, a partir de perspectivas divergentes, que é preciso juntar na solidariedade de um acordo, sem o qual não é possível a vida na cidade, sujeita ao juramento da concordância, provisória, embora a referência última seja sempre a mesma, o desejo de se comprazer na existência, sem que para isso se deva eliminar o desejo de outrem.
Assim, enquanto Platão, em sua República, configura a cidade política segundo um modelo de diferenças hierárquicas e funcionais, definidas de uma vez por todas, para afugentar o risco da sedição, os sofistas enxergam o espaço da política como um processo, ou um estado de mudança para o melhor ou para o pior, no qual tanto pode ocorrer a sedição do poder por parte dos ricos quanto a sua remoção por parte de quem se sente injustiçado, em razão de sua ambição desmedida. Daí a noção grega da justa medida, ideal de sua sabedoria. Ao contrário do que ocorre na geometria ou na aritmética, aqui não há certezas absolutas, fundamentos ou garantias prévias, transcendentais e indiscutíveis, senão a evidência intuitiva de que se deseja viver com prazer, ainda que não isento de risco, razão por que o sofista buscará, mediante a retomada incessante da conversa, ampliar o espaço da negociação. Ou, como diz Aristóteles, é mais prazeroso, para o exercício e o aprimoramento do paladar, participar de um piquenique, no qual cada um dos participantes traz a sua comida de casa, oferecendo assim aos demais a oportunidade de provar sabores diferentes, do que ser recebido para um jantar por um anfitrião, que oferecerá aos comensais o mesmo prato. É por esse mesmo motivo que o Diabo cristão, também sofista, escarnece do banquete celestial.
Para o sofista, a justa medida, ou o ideal de justiça, não está, portanto, inscrito em qualquer céu metafísico, no qual se poderia identificar com absoluta clareza a distinção entre o justo e o injusto, o certo e o errado. A realização do ideal da justiça, sempre precária, é de ordem prática; resulta da retomada de um procedimento, semelhante ao do discípulo, que somente mediante o exercício migra do estado de ignorância para o estado de conhecimento, para se reconhecer ignorante outra vez; ou ao do doente, que migra da doença para a saúde, sem garantias de que em outro contexto o seu estado atual não vá reverter-se: o risco, inerente à condição humana, é sempre possível, não existindo imunidade contra ele. O futuro está aberto: tudo vai depender do entrechoque retórico entre os falantes que, embora divirjam entre si, buscam legitimar o que dizem acenando para uma referência comum – o desejo de se comprazer na existência.
Não é meu propósito evocar a história da filosofia política de seus primórdios aos dias de hoje. Interessa-me a eleição da praça pública como o espaço institucional da política, compreendida nos limites da democracia liberal. Saltemos para o tempo presente. Quando Estados, partidos, grupos de pressão, indivíduos se afetam uns aos outros no processo de Poder – ou seja, no projeto de conquistar pela persuasão ou pela força o poder sobre outros seres humanos –tem-se reafirmada a dimensão política da sociedade. Numa democracia, a regra do jogo do poder político consiste em fazer uso da palavra com o objetivo de exercer influência sobre a ação política dos outros, quanto ao seu peso, ao seu alcance e ao seu domínio. Por influência entende-se a posição e o potencial de valor de uma pessoa ou grupo. Um valor é uma ocorrência desejada. Que Y valoriza X significa que Y age de maneira a ocasionar a consumação de X. Do conceito de valor, em termos de ato de valorização, decorre que os valores são conflitantes e concorrentes entre si. Conflitantes, porque opõem-se uns aos outros; concorrentes, porque dependem uns dos outros para terem reconhecida a sua legitimidade (Kaplan & Lasswell, 1979).
A ascendência de uns sobre outros é a fruição do poder hierárquico, ou o desfrute da deferência reconhecida por parte dos outros –na forma de respeito, prestígio, status, honra, temor, &c.–, para com aqueles que detêm Poder. O drama social e cultural na sua dimensão política é um drama de legitimação, encenado por cada um dos atores com o objetivo de legitimar a sua autoridade persuadindo os outros de que a sua proposta de ordem é necessária para a salvação da humanidade.
Como na vida democrática é pelo uso da palavra que se exerce o direito legítimo de influenciar, a arma utilizada é o argumento. Este não pode ser de natureza exclusivamente racional, porque o que se pretende é conquistar a adesão da audiência, seduzi-la –e esta não decide somente apoiada na razão ou somente apoiada na emoção. A sua resposta, como ação humana, é constituída ao mesmo tempo de razão, intuição, sentimento, emoção, paixão, ética, estética. Uma decisão, ou um ato, por mais concretos que sejam, carregam consigo a utopia, porque são também uma aposta sobre o futuro, que se desconhece, e nessa medida são fruto de conjetura, de apelo, de encenação, de esperança, de promessa, de subjetividade. Por isso, qualquer apelo feito à razão ou em nome dela, unicamente, é um embuste; visa tão somente camuflar o desejo patológico de mandar nos outros, submetendo-os a seus desígnios, jamais legítimos. O Poder hierárquico é uma doença, e não se conhece melhor antídoto contra ele do que a reciprocidade, ou o poder de destituição que caracteriza a rede libertária do mexerico, dos sofistas, de Aristóteles, de Espinosa e –ainda que, de longe, sem a mesma genialidade– de Gabriel Tarde.
* * *
Como se insere o poder hierárquico na espistemologia, na política, nas ciências, nas instituições, na existência quotidiana? Camuflando-se de objetividade, ou racionalidade. Nessa condição, a racionalidade imiscui-se como um verme intestinal no interior da abstração auto-suficiente, para se converter em um seu atributo intrínseco, endógeno, que a capacitaria a conduzir o ser humano, em vez de se deixar conduzir por ele, mediante a sua contribuição indispensável. Corresponde à operação do cocheiro que assumisse o lugar do burro na carroça; ou à operação dos intestinos ou o paladar, que assumissem o lugar do turista. Operação, além de caótica, ilegítima, pois a racionalidade é apenas um dos valores, entre outros. Observe-se, a propósito, ainda uma vez, como procede a ciência racional. Antes de se debruçar sobre a realidade com que trabalha e dela extrair o que chama de objetividade, a ciência sem sujeito precisa construir os seus objetos, ou seja, retirá-los de seu contexto (do campo do sujeito, que é a sua referência), para dar-lhe uma destinação universal, vale dizer, descontextualizada. Não existiria ciência do singular, de José ou de Maria. Além disso, o cientista sem cabeça precisa fragmentar a sua realidade em partes, à semelhança dos papéis em que se divide Santos. Como resultado da fragmentação, o objeto de estudo apresenta-se ao cientista sem cabeça como susceptível de ser manipulado mecanicamente –é nisso que ele está interessado, para poder variar as condições de seu experimento, sob controle, e sentir-se senhor da realidade. As crianças divertem-se de modo semelhante, dizendo «isso é meu», quando apontam para uma nuvem, por exemplo. Mas a diferença é que elas o fazem por inocência. Uma terceira condição para se compor um objeto científico é que ele apresente alguma utilidade, ainda que somente para a ciência. Esta não se embevece com o desenho que o vôo de um pássaro risca no ar. Ela quer, sim, saber o que lhe vai nas entranhas; por isso, sacrifica-o. Aí está a utilidade do pássaro para a ciência sem sujeito: ser coisa.
A ciência procede desse modo para realizar o seu ideal de conhecimento, supostamente neutro, do ponto de vista ético. Conhecer, nesse caso, significa tornar obrigatória a capacidade de predizer o efeito em todo o sistema, ao se mudar uma de suas partes. A previsão requer do sistema que seja passível de ser descrito de uma forma manejável e lógica, de modo que enunciados do tipo «se isso, então aquilo», possam ser feitos. É uma garantia para o turista de realização de uma viagem sem risco –e, portanto, sem prazer. Para que o conhecimento seja universal, nem a natureza das partes nem a natureza das relações entre as partes podem mudar.
Para o cientista, para o político, para o capitalista, são óbvias as vantagens em se proceder dessa maneira. A primeira é que se passa a acreditar que se pode simplificar a complexidade da realidade. A segunda é que, em conseqüência, tem-se a impressão de que a solução ganha aplicação universal, sendo por isso completa. A terceira é que se acredita que se pode manipular o mundo, supostamente sem risco. Isso eqüivale a dizer que Santos, por exemplo, contraditório e solidário em seu contexto, não poderia ser objeto da ciência conceitual. Santos, na sua complexidade individual, não é matematizável. Não é passível de operações lógicas, uma vez que o princípio de identidade (A = A) exige respostas binárias, do tipo sim x não. Eis o problema para a ciência sem sujeito: Santos é banqueiro, mas também não é banqueiro, porque é barão e vice-versa, um sujeito não-lógico.
Para se reconstruir o objeto «científico» Santos, barão e banqueiro, no idioma que os cientistas entendem –o da lógica matemática– seria precisa começar por remover-lhe o conflito, que as linguagens formais não toleram. Para estas, nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. Assim, para se conformar o «objeto» Santos aos princípios de identidade e de não-contradição, o papel de banqueiro deveria ser separado do papel de barão, e ambos de Santos, passando a receber cada um tratamento em separado, de acordo com o sistema racional e lógico que preside a cada um desses papéis, como se os regimes do Império e da República, na condição de entidades binárias, devessem manter-se um ao lado do outro até o fim dos tempos. Ou, como se um regime político devesse remover radical e subitamente o outro, como o Zero binário remove o Um binário e vice-versa.
No plano da prática social, porém, as coisas se passam de modo diferente –se assim é, pergunta-se para que serve a ciência sem sujeito. Sim, porque no dia seguinte ao advento da República, os mesmos coches e carruagens que transportavam barões no Império, transportavam agora banqueiros. Os suportes materiais do transporte eram os mesmos, mas os expoentes de prestígio, de status e poder associados a eles eram outros. Coches e carruagens já não transportavam sangue azul, por exemplo, o que os desqualificava como transporte da nobreza, que deixava de existir, e ainda assim continuavam a ser reconhecidos como veículos de transporte.
Contrariando a precisão da lâmina racional de Bacamarte, dos intestinos, do paladar, o contexto dos transportes de luxo no Rio à época da transição de regime político estava, portanto, com um pé no Império e outro na República. Ao observar o desfile de coches e carruagens pelas ruas, nenhum transeunte poderia reconhecer o momento preciso em que o pé republicano pisou pela primeira vez no terreno do Império. Mesmo o cocheiro, e possivelmente muito menos ele, saberia dizer, ao transportar Santos, se conduzia o banqueiro, que conspirava contra o Império, ou o barão, que conspirava contra a República. E, contudo, o passageiro era o mesmo, Santos, postado em ambas as trincheiras e, nessa condição, inabordável pela ciência sem cabeça. Ninguém poderia prever se da portinhola da carruagem sairia o banqueiro ou barão e, no entanto, o lugar que Santos ocupava no assento era o mesmo. Que utilidade tem nesse contexto a aplicação do princípio de identidade, isoladamente?
Ocorre que a ciência funcionalista, essa da subordinação do cocheiro à carroça, que supostamente saberia de seu destino, desconhece a metamorfose, a ação dramática, as expectativas, as frustrações, as incertezas e os riscos, o encantamento, a transição, a mudança, a auto-recorrência. Ainda assim, os cientistas dessa ciência sem cabeça ousam oferecer-nos a possibilidade de controlar a realidade, assim como pensou fazer o aprendiz de feiticeiro da lenda de Goethe.
A Política do Sujeito leva-nos ao reconhecimento de que é a unidade do ser humano que caracteriza e articula um modo de ser das coisas em que tudo é revogável e em que nada é definitivo. Já não sou o que era e ainda não sou o que serei. Assim, encontro-me em condições de acolher em mim a pergunta que a Política do Sujeito me faz a cada instante: O que pretendo fazer de mim mesmo?
Parte II
De como a rede do mexerico promove a um só tempo a estabilidade e a mudança
Nos anos cinqüenta do século passado, período no qual se intensificaram os estudos sobre a comunicação de massas, surgiu nos Estados Unidos a «teoria da bala», inspirada no ambiente funcionalista em que se encontravam embebidas as ciências sociais. A teoria da bala pressupunha um público passivo, à espera de que os meios de comunicação de massa lançassem sobre ele um «projétil» suficientemente poderoso, como uma mensagem de propaganda capaz de manipular a sua suposta docilidade na direção desejada pelos manipuladores. Corresponde à hipótese brincalhona de Veríssimo, da qual se falou anteriormente, segundo a qual as razões dos intestinos ou as razões do paladar se imporiam mecanicamente à pessoa do turista, sem que este pudesse discuti-las no seu «ambiente interno», que se caracteriza pelas interações conflitantes e solidárias que nele ocorrem.
Uma tal concepção mecânica da percepção dispensava os propagandistas de estudar o seu contexto e o de seu público, no qual incidem as suas mensagens, na pressuposição de que na formulação do conteúdo estava o segredo de um bom projétil. Assim como a caldeira produz o vapor que aciona a locomotiva, um conteúdo cientificamente aplicado mudaria a opinião pública na direção visada. O resultado é que o público recusou-se a se deixar seduzir pela mensagem, reagindo às vezes de forma contrária às expectativas dos propagandistas, ao suportarem o bombardeio sem mudar de opinião, ou mudando-a de modo imprevisível, como resultado da interação de seu modo de interagir com o modo como a mensagem foi comunicada (Schramm, W., 1973).
Em contraposição à teoria da bala, o sociólogo francês Gabriel Tarde, ignorado pelas grandes correntes da sociologia que têm origem no seu contemporâneo Émile Kurkheim, mais de meio século antes havia apresentado em seu livro «L' opinion et la foule» (1901) a sua «teoria do mexerico». Tarde elegeu como ponto de partida de sua reflexão, não o conteúdo da mensagem, mas o modo como o conteúdo se difunde na rede do mexerico. Isso corresponde a se deixar de operar unicamente no plano dos duelos lógicos no qual pontifica o princípio de identidade e migrar para o plano contextual –abstração e realidade a um só tempo–, no qual coexistem, de modo conflitante e solidário, o princípio de identidade e o princípio de equivalência. A teoria do mexerico tem, pois, como modelo a álgebra de Al Kwarismi, a linguagem, ou o diálogo. É graças ao modo como o conteúdo intervém que a rede se mantém em estado de estabilidade na mudança e, inversamente, de mudança na estabilidade. Numa pequena comunidade, por exemplo, na qual as alterações bruscas nos sinais exteriores de riqueza dos políticos estão ao alcance da vista dos cidadãos, existe a possibilidade de que o mexerico – sobre o ganho fácil sem contrapartida no trabalho –contribua para reduzir o expoente de corrupção em geral associada ao preço das obras públicas contratadas. O mexerico estaria contribuindo ao mesmo tempo tanto para o equilíbrio das finanças públicas quanto para a mudança dos costumes.
A teoria do mexerico contrapõe-se, por extensão, à versão probabilística da teoria da bala, versão segundo a qual os rumores veiculados pelo falatório se anulariam na insignificância do anedotário, pela sua compensação estatística. De fato, esse seria o caso se o falatório, ao promover no seio da comunidade uma inquisição contínua e recíproca, funcionasse como estímulo somente para a estabilidade dos costumes e das instituições, ou somente para a sua instabilidade (Zero ou Um) e não para a sua mudança (metamorfose).
Essa presunção corresponde à transposição mecânica do princípio termodinâmico da ordem de Boltzman para a existência humana, transposição que encanta a sociologia oficial norte-americana (Talcott Parsons). De acordo com esse princípio, é possível descrever na química, na biologia ou nas ciências sociais as evoluções nos sistemas nos quais se aplainam as diferenças e se limam as desigualdades, em proveito da homogeneidade e da uniformidade. A exigência do princípio corresponde ao esforço epistemológico e metodológico de se enquadrar a termodinâmica nos cânones da física clássica, e surge como necessidade de se explicar o antagonismo entre dois universais coexistentes na física: a gravitação e o calor. A explicação dá-se por um passe de mágica, que reduz a qualidade a quantidade, sem admitir que, assim procedendo, se tenha migrado do plano da realidade para o plano da abstração. Pois enquanto a gravitação exerce-se sobre uma massa inerte que a sofre sem ser afetada de outra maneira que não seja pelo movimento que recebe e transmite, o calor transforma a matéria, induzindo a mudanças de estado, modificações de propriedades. O equilíbrio, visado pelo princípio de ordem de Boltzman, é uma noção estática da física clássica, criada para lidar com coisas inertes, que migra para dentro da termodinâmica sob a condição de que os estados da matéria possam sofrer compensação estatística, ao se trabalhar com as interações de uma multidão de constituintes, como as moléculas de um gás, para que se possa satisfazer ao modelo do equilíbrio.
Em consonância com esse modelo, no estudo de fluxos e esforços nas redes elétricas atribui-se a cada ponto do espaço a cada instante um único valor de potencial, de modo que uma diferença entre dois potenciais seja a expressão de um esforço responsável por uma corrente durante esse instante. Na medida que admite que os esforços e os fluxos variam no tempo, os potenciais obviamente variam, mas o princípio da ordem de Boltzman desconsidera metodologicamente a relevância da variação, ao estabelecer que é sempre possível definir intervalos de tempo tão pequenos que o potencial em cada ponto poderia ser considerado constante. Dessa forma, satisfaz-se às exigências da lei do equilíbrio, que é assegurar o equilíbrio em cada ponto, em prejuízo do reconhecimento do que ocorre na realidade.
Na rede do mexerico de Tarde, ao contrário, cada ponto, na condição de suporte e referência de um estado de mudança, encontra-se virtualmente em desequilíbrio, expresso pela diferença entre a versão do fato que acabou de ser recebida por um dos nós e a versão de outro que acaba de lançá-la na rede. O que importa na rede do mexerico é o caráter infinitesimal da diferença entre as versões, que a anima. Essa diferença é responsável pela existência da rede, ou seja, pela geração de estímulos que desencadeiam mudanças no estado da rede e das versões, cujo fato correspondente não se poderia definir objetivamente, uma vez que qualquer que seja o nó da rede, ou qualquer que seja a rede, o que nele ou nela se veiculam são versões. Diferentemente do prescrito na sociologia de Durkheim, portanto, o fato tem na ciência ou na crença a mesma objetividade que a honorabilidade da esposa de César.
A explicação para a impossibilidade de se apreender o fato fora de contexto, ao contrário do pretende a teoria da bala, está em que as interações na rede, ou a sua topologia, são levadas a se modificar como resultado de seu próprio funcionamento, e a análise deve tornar possível a percepção dessas mudanças. Exemplo: a pessoa que aprende, assumida como uma rede de interações consigo mesma e com seu entorno, muda como resultado de seu próprio aprendizado e, por extensão, muda o seu modo de aprender. Assim, na evolução de um estado para outro, a própria topologia (estrutura) deixa de ser fixa e passa a fazer parte das variáveis de estado. Ao contrário do que ocorre no salão de «snooker» da física, ação e reação dão-se a um só tempo e no mesmo espaço. Não há, pois, ação de um lado e reação de outro lado, como extrínsecas uma à outra. Cada nó da rede é ao mesmo tempo sujeito e objeto de si mesmo e sujeito e objeto da rede. Ou, no exemplo do aprendizado, o ser humano é interface de si mesmo entre aquela parte de si mesmo que aprende e aquela parte de si mesmo que ensina a si mesmo. Ao mudar em conseqüência do aprendizado, o aprendiz muda a sua visão de mundo e de si mesmo, e essa mudança influi no modo como ele intervém na realidade, cuja percepção retorna a ele na forma de percepção de mudança da realidade e de seu modo de aprender.
Antes de prosseguir, é preciso insistir neste ponto: a teoria do equilíbrio não tem lugar na realidade da existência; não apenas nas ciências humanas e na cultura, mas também em todo o universo humano, nele incluídas as ciências físicas e as ciências biológicas. A eficácia analítica do equilíbrio pressupõe um universo descrito como estrutura e funções, no qual as funções funcionam sem interagir reciprocamente, sob a exigência metodológica de não se contagiarem umas às outras, ao contrário do que ocorre entre os papéis de uma mesma pessoa ou entre papéis de pessoas diferentes. Um universo descrito como estrutura e funções é desprovido de criatividade, de ação reflexiva, de auto-recorrência: universo maquinal.
Por isso, o princípio da ordem de Boltzman é impotente perante situações nas quais algumas decisões elementares, ao interagirem num determinado contexto, podem induzir a uma mudança de estado, o que significa induzir a uma mudança qualitativa em relação à sua mudança de estado anterior. É dizer que é impotente para explicar as interações da pessoa com os seus papéis e destes, mediante a pessoa, com o seu estereótipo. O indivíduo não determina o social diretamente nem este o indivíduo. Uma classe social não remove a outra mecanicamente, senão mediante a sua interação com as pessoas que encarnam os papéis que elas desempenham. Na luta de classes, como se disse, há algo mais do que classes em luta. Ou seja, as relações entre as abstrações são mecânicas; as interações entre os contextos são reais.
O equilíbrio deixa de ocorrer quando se reincorporam ao modelo as «rebarbas» da realidade que a compensação estatística despreza. Tome-se o caso do fenômeno da flutuação em química, familiar nas mudanças de fase na teoria dos gases. Prigogine & Stengers (1984) chamam atenção para o fato de que no seio de um gás gotículas de condensação não param de se formar, evaporando-se em seguida; todavia, tão logo a temperatura e a pressão confiram estabilidade ao estado líquido das gotículas, o seu tamanho crítico torna-se decisivo para a transformação do sistema. Se o tamanho crítico da gota, dependente da variação das interações da temperatura com a pressão, transpuser esse limiar de nucleação, todo o sistema gasoso mudará bruscamente de estado, passando para o estado líquido. O sistema, composto de uma imensidão de elementos que interagem com forças de curto alcance – a exemplo do que ocorre na rede humana do mexerico –comporta-se como um todo, como se cada molécula estivesse informada do estado do conjunto.
Em razão de suas características, os sistemas abertos –que trocam energia, matéria e informação com o meio– parecem adequados, como analogia, para se compreender como se dão os efeitos das interações das percepções humanas individuais, ou as inovações tecnológicas, por exemplo, com o sistema econômico, social, cultural, ambiental ou político. Por inovação tecnológica entende-se aqui não um novo produto, que se limitaria a satisfazer de maneira diversa uma demanda preexistente, mas um novo processo, que se faz reconhecer e ser acolhido sem «nicho» prévio no contexto, que muda de estado (mudam as propriedades de seus elementos e o seu modo de interagir), participando interativamente da transformação do meio no qual é introduzido e criando assim, à medida que se amplifica, as condições de sua multiplicação ou o seu próprio «nicho».
As inovações correspondem não a fluxos que alimentam o sistema de forma contínua, mas a eventos inesperados, como as mutações. Nesse caso, os novos constituintes, ao serem introduzidos no contexto, estimulam a geração de um novo conjunto de relações de transformação (interações) que entram em competição com o modo de interagir anteriormente estabelecido. Se o contexto conseguir manter-se estável em relação à intrusão, o novo modo de interagir não conseguirá impor-se e, nesse caso, os supostos inovadores, que se reproduzem graças à sua inserção no contexto, não sobreviverão. Se, ao contrário, a inovação for capaz de se impor, e se a multiplicação dos inovadores for rápida o suficiente para que estes, em vez de serem inibidos, induzam à mudança da referência do contexto, todo o contexto assumirá um novo modo de interagir. Pense-se, a propósito, numa agressão patológica ao organismo e a sua resposta normativa orientada para a saúde.
Insiste-se aqui no papel estratégico desempenhado pelas variações infinitesimais que a estatística despreza. É na eleição preferencial pelas rebarbas, descredenciadas por sua suposta irrelevância, que está a diferença entre a rede do mexerico e a trajetória mecânica da teoria probabilística da bala. A rede do mexerico, como se disse, alimenta-se da variação infinitesimal entre uma versão e outra. Essas diferenças expressam o hiato existente entre aquilo que julgamos saber sobre como se comporta o objeto de estudo (uma construção abstrata) e o modo como a realidade contextual se comporta de fato. Na rede do mexerico, o que tem valor como estímulo para a sua atividade criativa é o efeito colateral, o estímulo que parte do meio (da rede), como resultado das interações de seus nós, razão por que não é possível predizer o caminho percorrido por sua suposta causação mecânica. É mediante o seu reconhecimento contextual que ocorre a criatividade, uma nova idéia, por exemplo.
O caráter necessariamente instável da rede, propício e necessário à emergência da criatividade, é ilustrado por Pregogine & Stengers no exemplo a seguir das moléculas de água em fervura na panela sobre o fogo. Sabe-se que a água ferve a 100 graus centígrados no nível do mar. Essa é uma lei que satisfaria plenamente aos físicos e ao racionalista Simão Bacamarte, não porém à pessoa do turista de Veríssimo. O inconveniente da lei é que ela esconde da percepção o que se passa efetivamente na panela de água em fervura sobre a chama. Cada molécula comporta-se em relação à outra como um nó em relação a outro na rede de Gabriel Tarde. Entre uma e outra, há uma diferença de potencial de energia que não pode ser desprezada, sob o risco de não se enxergar o processo de mudança de estado, de líquido para vapor d'água.
Uma percepção dotada de visão microscópica iria observar que as moléculas não entram em ebulição ao mesmo tempo e é porque não entram que a mudança de estado se torna possível; e que, em torno do momento da fervura, explode uma primeira bolha num ponto qualquer da superfície da água, cuja localização ninguém seria capaz de prever: o infinitesimal, ou a diferença, começa a manifestar-se à visão macroscópica. Não se sabe quando nem a partir de qual local vai dar-se o início do processo de fervura. Porém, isso não quer dizer que o processo seja caótico. Sabe-se que, sob a ação do fogo, a água vai ferver: as moléculas, como interfaces em interação, estimuladas pelo aquecimento, agitam-se no meio, modificando o meio que as modifica, transformando-se e transformando-o, para o estado seguinte de vapor. Prosseguindo-se na observação, seria possível notar ao longo do processo que do caos molecular inicial surgirá espontaneamente um movimento ordenado, mas não tão ordenado a ponto de se poder convocar a estatística para asseverar que ele é uniforme. Nessa ordenação, a diferença faz-se presente, como «determinante» da direção da mudança. Em torno da explosão da primeira bolha, vão explodir outras e outras, e no momento seguinte bilhões de moléculas terão entrado num movimento ordenado de convecção.
Recapitulando o que se terá observado, seria plausível admitir que o calor da primeira molécula a explodir não dispunha do poder contextual necessário para invadir todo o sistema. O calor, que não se distribui de maneira uniforme na panela, é mais intenso em cada momento numa determinada região. Conforme essa região inicial seja mais ou menos resistente à propagação do calor, o processo a partir dessa região poderá avançar ou regredir. Tudo dependerá do tamanho da molécula mais aquecida. Se o seu tamanho conseguir transpor o limiar de resistência oferecido pela vizinhança, a água ferverá a partir daquela região. O resultado da competição entre o poder de integração da porção de água mais aquecida e da porção de água menos aquecida dependerá da velocidade de comunicação que cada uma das porções conseguir estabelecer na disputa pela adesão da massa de contendores situados no campo «adversário».
E aqui vem a lição que desautoriza o enfoque dicotômico. Todas as moléculas de água na panela, que disputam entre si a permanência e a mudança, orientadas pela referência de seu aquecimento, saem «ganhando», uma vez que toda a água vai ferver. Embora estejam competindo entre si, os contendores, reconhecendo-se no mesmo contexto, estão também colaborando reciprocamente, no processo de aquecimento mútuo. Trata-se de uma competição solidária, na qual não há perdedores.
Transpondo-se a analogia do desequilíbrio, constitutivo do processo de mudança de estado da água, para a rede humana, a primeira observação é que são os atores que a constituem, seres em estado de mudança. O tecido não é independente dos tecelões, da mesma forma como o estado líquido das moléculas de água, na sua transição para o estado de vapor não é independente do comportamento de cada uma delas. É dizer que no processo de construção da transformação não há nenhum plano preestabelecido, ou uma lógica que a preceda, e sim atores que, ao interagirem sob o influxo de um determinado estímulo, captado como tal pela referência que os orienta, vão configurando a si mesmos e a própria rede.
Isso não quer dizer, adverte-nos o cientista político Fernando Mires, que uma rede ao ser tecida é caótica ou desprovida de lógica; pois a «lógica» de que se trata nesse contexto não é a lógica do paladar ou dos intestinos, considerados isoladamente, uma lógica externa à rede, e sim uma lógica includente que se configura no processo de sua auto-construção pelos atores que dela participam. À medida que a tecem, e que as redes avançam, os seus autores vão sistematizando, paulatinamente, determinadas porções da realidade. São redes, ou unidades, autopoiéticas. Necessitam, pois, de espaços.
No campo da filosofia política, que é o Fernando Mires, o espaço de configuração de redes não é o Estado, que por ser Estado já se encontra edificado, mediante um conjunto organizado de instituições, códigos, leis e normas. O que permanece fora do Estado, e não há outra alternativa, é a sociedade civil (a parte não estatal do social). Não obstante, a civilidade do social não surge automaticamente da ausência do Estado, e sim da interação entre a sociedade e o Estado. Nesse sentido, prossegue Mires, poder-se-ia dizer que a civilidade constitui-se mediante redes. A novidade é que, frente ao paulatino recuo do Estado nas questões econômicas e sociais, como resultado de seu assédio pelo mercado, emergiu a «redificação» do social, ao ponto de as redes se terem convertido em verdadeiros locus de auto-regulação social e política. A redificação ocorre em todos os planos: local, regional, nacional e internacional. Neste, disputam, de um lado, a globalização unipolar, com o Estado de George W. Bush à frente, e, de outro, o esboço de uma espécie de confederação internacional de pequenas comunidades, em processo contínuo de diferenciação. A despeito da truculência recrudescente dos neoliberais, eis um século feminino por excelência, não apenas na política internacional e nacional, mas em todas as manifestações da vida em sociedade, na educação, na tecnologia ou nas estratégias ambientais, que passam a associar ao global o local (e com este o saber tradicional) como critério de eficácia sustentável na combinação ótima dos fatores que elas mobilizam.
Os movimentos sociais e as ONGs, que apresentaram formidável expansão na última década, seriam nesse contexto organizações suscitadas como resposta à recusa do Estado uniformizador em se espelhar na sociedade diferenciadora, em benefício excludente do mercado, pelo qual tudo se converte e se expressa em mercadoria; apresentam-se, assim, como novas formas de auto-condução social e cultural que dispensam a onipresença do Estado. A multiplicação e a diversidade dos centros de poder esvaziam as pretensões absolutistas do poder do Estado de sujeitar a sociedade ao mercado. Com o surgimento das redes, tem-se a formação de cidadãos ciosos tanto da universalidade quanto de seu nariz, autônomos e soberanos, que substituem as relações de vassalagem perante o Estado por relações de reciprocidade, que pressupõem a remoção da assimetria atual no acesso aos instrumentos de poder. Com as redes, têm-se disseminada a reafirmação da consciência social e o recuo correlato de sua alienação.
Diferentemente do espaço geométrico, que é previamente constituído como constructo abstrato, o espaço da rede, que é uma construção contextual –real e abstrata a um só tempo– somente se constitui à medida que é construído. De modo que, ao ser tecida, a rede configura o seu próprio espaço, que não é outro senão a própria rede. E assim, mediante a redificação política, a própria sociedade deixa de ser objeto ou coisa, para adquirir a condição de processo. É impossível à rede, portanto, fixar-se de uma vez por todas em determinado tempo e lugar.
«Assim, o espaço do político é configurado pela redificação que realizam os atores de acordo com as interações comunicativas; e desaparece toda possibilidade de se imaginar uma instância externa ou, o que lhe é semelhante, uma racionalidade extra e meta-histórica. Pois a rede, repito, surge numa sociedade que existe à medida que é tecida» (Mires, F.).
A «teoria do mexerico» de Tarde leva-nos, assim, a abandonar as implicações da suposta passividade da sociedade, para substituí-la pelas implicações da noção de processo, introduzida na filosofia grega por Heráclito, pelos sofistas e em certa medida por Aristóteles, segundo a qual a sociedade somente se constitui mediante a resposta de seus atores aos estímulos de seu contexto social –um processo auto-recorrente. Nessa perspectiva, a sociedade civil já não pode ser definida somente de modo negativo, como tudo aquilo que não é Estado (ou mercado), e sim como «algo» que se define pela maneira como se comporta ou se institui.
«O erro fatal dos globalistas (unidirecionais) é que continuam acreditando que o único campo de ação política é o Estado, quer para administrar a sociedade a partir de cima, quer para ocupa-lo a partir de fora. A conseqüência mecânica que se depreende dessa crença é simples: quanto menos Estado, menos política. Ou, o que é igual: quanto menos Estado, mais economia. Em contraste, a partir da idéia da sociedade em rede a política retoma o seu lugar de direito, o locus do possível, para além do Estado. O 'declínio' do Estado não levaria ao desmoronamento do social, e sim à sua auto-sustentação, mediante a criação de redes que o cruzam em todas as direções. Sendo o Estado por injunção de sua própria existência um campo de operação política, ele deve reger uma sociedade na qual se formam múltiplos nós de ação, interação e institucionalização. Assim o Estado, sem perder a sua centralidade, comparticipa com núcleos de poderes interconectados em redes. Não que a sociedade chegue a ser um 'corpo policêntrico' (o policentrismo é uma impossibilidade geométrica), mas um campo configurativo, permanentemente recriado mediante a tessitura dos diversos tecelões» (Mires, F.).
Como intentei mostrar na analogia do turista com seu conflito entre paladar e intestinos, as revoluções somente são possíveis na ausência de uma instância reguladora interna dos conflitos sociais. A idéia da sociedade em rede prescinde do trauma revolucionário, sem renunciar à mudança e tornando-a ainda mais potencialmente efetiva. Atente-se, porém, para o caráter diferencial dessa regulação: não se trata de regulação funcional, que faria o «sistema» retornar ao suposto estado de equilíbrio de seu ponto de partida, mas uma regulação que se institui como diferença, como desvio normativo de caráter estratégico suscitado por sua orientação à referência –um estado de mudança–, ao desejo de se comprazer na existência, diferentemente. Um exemplo de regulação contextual é a do aprendiz: uma lição assimilada pelo aprendiz não se inscreve simplesmente na continuidade do aprendizado, mas nela instaura a sua descontinuidade, capacitando o aprendiz a enxergar de modo novo a sua nova ignorância, perante um «mesmo mundo» agora desconhecido. Lembre-se do exemplo de Odisseu que, ao se decidir por deixar Calipso para retornar à sua Penélope, depara com um novo contexto, a travessia do mar e os perigos que lhe reserva a astúcia do deus Possêidon. Prazer na regulação contextual, sim, o que não quer dizer regulação funcional isenta de risco.
Refletindo agora em termos gerais no campo da experiência, do conhecimento e da convivialidade, pode dizer-se que as experiências e os saberes individuais encontram-se imersos no dizer social e cultural (correspondente ao tecido e à rede), e esse dizer, à medida que induz à participação dos dizeres individuais, torna-se indissociável do social e do cultural. Essa participação, ou negociação entre interlocutores, alimenta as intersubjetividades e condiciona contextualmente as interpretações. As interações do dizer manifestam-se tanto na vida quotidiana quanto nas atividades cognitivo-científicas. A construção dos saberes apoia-se não somente na experiência sensório-motora do indivíduo, mas também no discurso, que permite a apropriação dessa experiência por outros indivíduos. Mas a palavra, ou a decisão –e eis o risco encarnado no mito de Possêidon– presta-se a revelar o melhor ou o pior dos mundos.
Para compreender o que se quer dizer, não basta convocar, para reuni-los, os elementos que preexistem ao nosso conhecimento, como ordenação dos significados das palavras empregadas para expressá-lo. Uma mesma sentença com as mesmas palavras pode significar algo ou o seu contrário. Se o contexto, em vez de ser o locus do como, fosse o locus do «o que é», como pretende a cibernética, dele não nos chegaria a menor informação. Esta, para ser de fato informação relevante, é, por definição, uma diferença, um modo ou um como, e não uma identidade e seu oposto excludente. A diferença enxerga-se no reconhecimento e na explicitação do novo contexto (eqüivalência), espaço unitário da comunicação que acolhe, de modo conflitante e solidário, o problema e a solução, a pessoa (individual e social) como objeto e sujeito de sua própria história.
Uma tal epistemologia, que já não se dissocia da axiologia, requer o reconhecimento e a explicitação de alguns princípios, desde sempre presentes na experiência intuitiva da realidade, mas excluídos do horizonte gnoseológico e ético pelo objetivismo epístemológico, que em proveito da segurança ilusória e do controle sobre a realidade converte o ser humano em coisa. Para se restabelecer o espaço propriamente humano da reflexão, é preciso associar ao princípio da identidade o princípio da eqüivalência, como o faz a álgebra de Al Kwarismi. Os princípios da contextualidade são o tema da Parte III.
Parte III
Princípios para uma Política do Sujeito, ou para a auto-gestão da vida quotidiana
Ao eleger o diálogo como lugar central da filosofia política, ou da auto-gestão da vida quotidiana, assume-se ipso facto a rejeição a toda pretensão de ordem fixista da realidade, de toda fundamentação ontológica do social e do individual. Toda ordem é humana e, sendo auto-recorrente o reconhecimento do que é ser humano, toda ordem pode ser subvertida, para o bem ou para o mal. Nenhuma abstração que se venha a construir para enunciá-la é superior à capacidade humana de removê-la, quando da eleição de uma outra, supostamente mais adequada para se reconhecer um novo contexto.
O conhecimento não é descoberta, e sim diferença, reconstrução incessante, reconhecimento; não é linear nem cumulativo, e sim includente e auto-recorrente: recupera numa nova configuração elementos reconhecidos anteriormente, atribuindo-lhes, de acordo com a referência do novo contexto, novos expoentes de valor, novas propriedades, um novo modo de interagir, assim como ocorre numa mutação gênica. Trata-se de um exercício recorrente sobre uma realidade que não se deixa exaurir pela racionalidade, uma realidade que se desdobra ao infinito, como efeito de nossa investida sobre ela. A realidade não se rende a assédios fatais, porque do próprio assédio e em conseqüência dele emerge a visão de uma «nova» realidade. A realidade, sujeito e objeto ao mesmo tempo, é, pois, um estado de mudança, que escapa a toda pretensão absolutista da razão, ou da lógica das partes sem sujeito, de apreendê-la na sua totalidade. Ou, dito de outra maneira, a realidade não é apenas racional ou lógica: é a expressão unitária, coextensiva e simultânea de todos os valores humanos que se reconhecem nela, mediante a percepção. Quem, além do temerário Freud, ousaria separar na expressão de um bebê de colo o desejo de aconchego, de segurança, de alimento, de afeição ou de sexo? Se, na história das sociedades, uma dessas interfaces, de cuja interações se constitui a singularidade humana, se sobrepõe a outra, com pretensões hierárquicas de auto-suficiência, é em razão de algum artifício, violento ou não, que cedo ou tarde será desmascarado.
Assim, se a história nos ensina o que não convém, o que convém está por ser criado: o futuro permanece aberto, como campo no qual se exerce a criatividade, em contexto. O diálogo não se encerra, e o resultado das interações de que ele se constitui e as quais promove, é imprevisível. A toda política do conceito (artifício), que é unívoca e linear, sobrepõe-se a Política do Sujeito, que é real e auto-recorrente. Deixamo-nos levar somente pelo desejo, que nos arrasta a todos e ao qual nos entregamos sem medir sacrifícios: é maior do que qualquer alegria (Nietzsche). Prazer e risco estão necessariamente associados ao desejo de modo inseparável: a imagem da felicidade, como um porto seguro de atracação, é miragem ideológica, adequada ao ambiente dos cemitérios. A solução a que se chega jamais é completa, para a nossa sorte, pois assim se assegura a possibilidade de voltar a sonhar, indefinidamente.
Menciono, como exemplo, para a explanação da noção de incompletude, a ocorrência de uma nova tecnologia, que não vem para resolver os problemas que a suscitaram, mas para propor uma nova ordem de problemas. O caminhão, que substituiu o carro de boi como veículo de transporte, não resolveu nenhum problema no contexto do carro de boi, mas criou, com a solução por ele induzida, problemas que a solução representada pelo carro de boi desconhecia. Caminha-se tanto do problema para a solução quanto da solução para o problema, solução e problema disputando o mesmo espaço unitário de possibilidades, conflitante e solidário.
Em que consiste a incompletude no reconhecimento da realidade? Em reconhecer e explicitar novos papéis, novas interfaces, novos conceitos, novos processos na realidade em que se está ou que se é: é a esta idéia que remete o princípio do paralelismo. À luz desse princípio, que será enunciado mais à frente, a realidade que se enxerga desdobra-se em um número ilimitado de pétalas, a exemplo de uma margarida imaginária que se tivesse deixado arrebatar pelo sentimento da incompletude.
Esse desdobrar-se não diz respeito ao transcurso do tempo linear, e sim ao reconhecimento e à explicitação de novas diferenças qualitativas, novos contextos. Não transcorre tempo algum entre intuir que a luz é partícula e intuir que é onda, em que pese os cientistas sentirem ter vivido essa experiência como transcurso objetivo do tempo histórico entre um enunciado e outro. Segundo a expressão de Humberto Maturana, o tempo é «uma abstração que conota a ocorrência de processos em seqüência, quando os distinguimos na construção da coerência com que buscamos explicar a nós mesmos a experiência da existência». A arma de fogo, que é futuro para um indígena que a desconheça, deixa de sê-lo, para converter-se em passado, tão logo a reconheça.
Por isso, não é certo dizer que alguém tenha descoberto na realidade novos papéis, novos processos. Ao reconhecê-los, a impressão que se tem é que estavam sempre lá, à espera de que fossem despertados para a vida da consciência e dos sentimentos. Assim, seria impróprio afirmar que os gregos ou os romanos ignoravam o que é uma classe social, a racionalidade econômica, a sexualidade, o inconsciente, o fato social, a sociedade civil, a infância –processos cuja autonomia foi reconhecida e explicitada recentemente na história. Uma criança é sempre criança. O que muda são as abstrações que construímos a respeito dela. O modo como a infância (uma abstração) interage no contexto greco-romano é diferente do modo como interage no contexto atual, mas é diferente porque a criança é a mesma, como expressão do caráter unitário e contextual da realidade tal qual a percebemos.
Certamente, gregos e romanos, no seu sentimento de incompletude, pressentiam outros modos de ser criança, assim como todos pressentimos o latejar de um desejo que ainda não se fez vontade. Mantiveram-se, no entanto, presos culturalmente ao modo como faziam interagir no seu contexto a abstração da infância que enxergavam na criança. Vive-se tudo a um só tempo, e se deseja viver sempre mais tudo. Mas afirmar que «nada do que é humano me é estranho» não é ainda dizer tudo: é preciso confiar ao desejo de se comprazer na existência a oportunidade de nisso se exercitar, mediante o seu reconhecimento e a sua explicitação (razão e sentimento) no contexto. É nesse exercício que emerge e ganha corpo a singularidade (diversidade na unidade de si mesmo, em papéis), a diversidade das culturas, novos modos de enxergar o mundo.
O ideal galileano de conhecimento –que separa indevidamente a epistemologia da axiologia, a intelecção da vontade, o fato do valor–, converteu a pedagogia social num adestramento para o desencanto, ao pressupor a transparência da realidade, a identificação entre sujeito e objeto. Levou-nos a confundir o território com o mapa, a criança com a infância. Assim, ao se debruçar sobre o estudo dos povos que chamou de primitivos, Levy-Brühl intentou demonstrar que eles são desprovidos de um pensamento técnico e racional. Cunhou a «mentalidade primitiva» de «pré-lógica», passando a advogar que a lógica, a técnica e a racionalidade teriam desabrochado no seu esplendor somente na cabeça de quem os reduziu à condição antropológica, política e moral de primitivos. Há menos de cem anos a antropologia deu-se conta de que, se nos vimos como o termo final dessa suposta evolução linear, é porque nos havíamos instalado nela desde o início, para marcar na distância assim construída a superioridade da civilização atual, lógica, técnica e racional. Na atualidade, porém, a pesquisa, a intuição e a ética têm sabido mostrar que «pré-lógica» era a nossa incapacidade de enxergar como os primitivos agenciavam o lugar da sua lógica na configuração cultural de seu contexto. A ignorância da diversidade cultural e o preconceito estavam de nosso lado, não do lado deles. Tanto eles quanto nós fazemos uso do que chamamos atualmente de razão, técnica e lógica; não porém de acordo com uma mesma delimitação e conformação categorial, na qual cada um desses elementos devesse ser considerado como uma função, recortada de uma mesma matriz preexistente de funcionalidades, de modo a se poder reconhecê-las no seu isolamento. Esse recorte categorial pertence ao mundo funcional da atualidade, não ao mundo dos antigos. Tanto os antigos egípcios quanto os atuais europeus são religiosos: a sua religiosidade, no entanto, não é a mesma; ou, sendo a mesma, insere-se e interage de modo diferente, como suporte de outros expoentes de valor, nos seus respectivos contextos. Pode dizer-se que os «primitivos» confiavam um só tempo na lógica e em seus mitos, assim como convertemos atualmente a racionalidade em mito, ao conceder-lhe foro de auto-suficiência com direito de soberania no espaço unitário dos valores humanos. O que se buscava transferir para a sociedade dos «primitivos» era a nossa suposta rejeição ao mito, igualmente atuante em nossa sociedade sem que se queira admiti-lo. Enquanto isso ocorria, o ensaísta inglês Gilbert K. Chesterton escrevia com humor que a Idade Média somente é obscura para quem é obscuro em relação a ela.
A experiência da realidade alucina, até os sensatos. Machado de Assis mostrou-o em «Memórias póstumas de Brás Cubas»: o espadim de cada um ousa ombrear-se com a espada de Napoleão. A exemplo do imperador francês, as abstrações que criamos têm vocação absolutista, e acreditam, quando ganham auto-suficiência, que são capazes de se fazerem reverenciar. Usurpam o trono, dele removendo a realidade, e assumem o papel de sujeito da história. Assim, quase todos os que se distinguem por ter reconhecido e explicitado um novo processo na natureza ou na sociedade –Freud, com o seu inconsciente; Lorenz, com o seu instinto de agressão; Kant, com a sua razão; Durkheim, com o seu fato social, Newton, com a sua métrica, &c.– imaginam poder fazer dele o que um lógico alucinado, plagiando Arquimedes, faria: «Dê-me uma premissa, e eu moverei o mundo». Manejando o seu espadim, tal como Moisés o seu cajado, o novo profeta da realidade divide a história do mundo ao meio: antes e depois do advento de sua engenhoca. Crê, assim, que inaugurou a história, ignorante de que foi ela que o trouxe até ali. E haja fantasia de cartógrafo para estender o novo mapa aos confins do território. A nova metáfora passa a contaminar toda a realidade, dos céus aos infernos, a exemplo das «ondas do mar» do poeta, que o levam a enxergar um mundo ondulante.
Compreende-se por que eles se tomam por Prometeu, o herói mítico que roubou o fogo dos céus para que os seres humanos construíssem a civilização. Não é fácil introduzir no contexto o reconhecimento de um novo processo –veja-se a epopéia de Marx– , ainda que o processo lá estivesse latente, com seus expoentes variáveis de valor, desde todos os tempos. Como as visões de mundo estão cheias de si mesmas, sem admitir vazios, parece ser preciso abrir espaço com o uso de fórceps, tanto mais que o reconhecimento de um «novo» processo não se apresenta como se apresentam aos alunos os objetos – dissociados uns dos outros, mutuamente indiferentes. Essa forma dissociativa é apenas um modo ideológico de apresentá-los, para negar o caráter intuitivo de sua continuidade. É verdade também que, a despeito da resistência ideológica, o «advento» do novo processo apresenta-se «naturalmente» como resposta a uma exigência de integração, em razão do reconhecimento de alguma inconsistência enxergada no contexto. O reconhecimento do novo processo vem para interferir no modo habitual de se reconhecer as interações no contexto –processos até então assumidos (ou não) ideologicamente na sua suposta sedentariedade como coisas– e para dar-lhes uma nova configuração, novas propriedades definidas por uma nova referência. Não promete levar-nos mais longe pelo mesmo caminho, mas inaugurar uma nova maneira de viajar. Daí o seu ímpeto eventualmente alucinado quando se apresenta como auto-suficiente, capaz de nos conduzir pela ilusão de sua onipotência.
De vocação absolutista, os Colégios de Cartógrafos de Borges existem somente para produzir delírios. E o delírio –ou a racionalidade isolada do sentimento–, não tolera a diversidade de percepções de uma mesma realidade; por isso, reduz a realidade ao que supõe que percebeu, a exemplo do menino de Santo Agostinho que se empenhava na praia em transferir toda a água do mar para o buraco que nela havia cavado. Como, porém, sua fantasia não consegue cobrir senão uma parte muito limitada da realidade, deformando-a, o novo Prometeu racional envidará todos os esforços para esconder sob a abstração que construiu o que deixou de fora. Recorre na empreitada tragicômica –e às vezes trágica, como ocorreu com a eugenia e o nazismo– aos princípios de identidade e de não-contradição que, utilizados fora do contexto em que devem ser aplicados, prestam-se a converter o território inteiro da realidade em abstração. Graças a essas noções fantasmas, passa a enquadrar não somente o universo conhecido, mas também o universo inteiro dos possíveis. Conhece por antecipação. Coloniza todos os sistemas racionais de explicação, que têm a função de corroborar a verdade delirante, perante um mundo agora ameaçador, por dele ter removido o encantamento, o prazer e o risco, em nome da remoção da incerteza e do controle sobre a realidade, como se disse.
Felizmente, a realidade não se rende e, assim, aprendemos que as propriedades e as referências manifestas nos processos como tais não lhes pertencem, e sim ao contexto no qual interagem. O seu reconhecimento resulta, como um efeito colateral, da referência do contexto no qual se está. O caráter de suas propriedades, cuja atribuição é prerrogativa da referência do contexto, varia de acordo com a variação da referência.
Em razão de receber o caráter de suas propriedades do contexto, os processos, embora autônomos, não são auto-suficientes. Ou seja, embora possam ser reconhecidos como entidades de razão isoladas, não operam por conta própria; não determinam nem predeterminam-se uns aos outros; não se impõem uns aos outros, senão mediante violência física ou institucional, desnaturando-se em conseqüência, nesse caso, em coisa. São paralelos e são interdependentes: interagem no contexto, que é a instância auto-suficiente, ou o lugar da auto-recorrência em que se geram as referências.
Todos os processos, considerados em si mesmos, são igualmente relevantes ou irrelevantes: nada tem sentido fora de contexto. O expoente de valor de sua importância é-lhes conferido pela referência do contexto. Os processos «relevantes» são, pois, aqueles que se conseguem reconhecer e explicitar no contexto no qual se decidiu trabalhar. O canto do carro de boi já foi tema relevante no contexto da história do País, a ponto de se ter convertido em matéria constitucional no âmbito do poder municipal. Hoje, tem-se a lei do silêncio, que lhe é eqüivalente, mas já não se tem no mesmo contexto a relevância do papel do carreiro e de toda a constelação de significações que fizeram do carro de boi o símbolo tecnológico de uma época. O contexto que tem o ruído como suporte de atribuição de valor é outro, embora se trate igualmente de ruído. As fronteiras do contexto, a exemplo das existentes entre os papéis, não são fixas: daí o fato de a variação no expoente de sua relevância ser dependente da variação dos contextos, que se cruzam uns aos outros, descontinuamente, na sua continuidade. Esses aspectos serão objeto de atenção mais à frente.
As «obras de civilização», na expressão dos franceses, constituem-se de processos reconhecidos e explicitados ao longo do tempo. Assim, são processos: o reconhecimento da pessoa humana como valor sagrado, a partir do cristianismo; a eqüivalência (tolerância) das culturas, a partir da dominação árabe da Península Ibérica; o Direito, o indivíduo, a sociedade civil, o mercado, a moeda, a literatura, a arte, a escultura, a fotografia, o cinema, a tecnologia, a ciência, a medicina, a hidrografia, a geologia, a fisiologia, a genética, a química, o urbanismo, a nanonologia, a astronáutica, a culinária, a moda, o turismo, o esporte, o transporte, a agricultura, a vestimenta, a metalurgia, a eletrônica, o trabalho, o lazer –enfim, tudo aquilo em que se reconhece a presença de um valor humano. A obra do historiador Norbert Elias faz aparecer diante de nossos olhos a emergência histórica e contextual de processos considerados relevantes nos tempos atuais, tais como o Estado, o Direito, o indivíduo, &c. –e, especialmente, a sua metamorfose, que é o seu modo de interagir. Karl Polanyi realiza trabalho semelhante em relação às transformações sociais do século XIX. Karl Marx foi, nos tempos modernos, o primeiro a mostrar o caráter histórico, inventivo e contextual do reconhecimento dos processos e as suas interações entre o ser humano, mediado pelo trabalho, como forma de presença mediata da natureza na existência social. Na cultura ocidental, o precursor foi o filósofo grego Heráclito, que não realizou outra proeza senão desvencilhar do mito, tanto quanto isso é possível, a idéia de processo, reconhecida, embora não explicitada, desde que a espécie se enxergou como humana.
O processo é uma noção intuitiva, que se caracteriza por não dissociar a racionalidade dos demais valores humanos, embora os distinga. O processo é o espaço unitário de possibilidades conflitantes e solidárias, a um só tempo real e abstrato: prática social. É mediante a noção de processo que se enxerga a singularidade; singularidade que a racionalidade, isoladamente, não alcança, como mostraram Espinosa e Heráclito, entre os filósofos, e todos os poetas, literatos e artistas. Machado de Assis foi um mestre em chamar atenção para a noção de processo, ou metamorfose; soube respeitar-lhe a inconsistência, ao não remover da existência o pacto ambíguo entre o finito e o infinito, entre Deus e o diabo, o conflito e a solidariedade. Redimiu, assim, do naufrágio do cientificismo de seu tempo, o encantamento, a incerteza, o desejo de viver e o risco a ele associado. Pergunta-se, a propósito: por que confinar a leitura da obra do cientista da ciência contextual, por excelência, Machado de Assis, ao estudo da literatura?
O processo de reconhecimento de processos, por ser processo, não tem caráter aditivo ou cumulativo: não é linear. A história pessoal ou da humanidade não dispõe de trilhos, como os trens, nem de plataforma predefinida de desembarque. Ao reconhecimento de um novo processo, tem-se uma nova configuração da realidade enxergada, um novo mundo, ordenado de acordo com o reconhecimento de novos modos de interagir dos contextos, redesenhados de acordo com as novas referências e suas respectivas propriedades, diversas e includentes, ao um só tempo. Todos os contextos integram-se num único contexto, sem se anularem reciprocamente na sua suposta identidade, o contexto humano.
Por que e para que se reconhecem e explicitam processos? Porque se é processo e se está empenhado em enxergar melhor a realidade, ou seja, a complexidade do problema, ou contexto, feito de interação entre processos (contexto = processo + referência). Explicitam-se os processos assim como um botão de flor desabrocha em pétalas: reconhecem-se neles novas interfaces, novos processos, novas possibilidades de interações, novos efeitos colaterais resultantes dessas interações, para se poder responder a eles, no sentimento de incompletude, no desejo de se comprazer na existência. Pode sentir-se bem onde se está, desde que se sinta que se possa estar em outra parte. Não é preciso transpor a soleira da porta, mas é preciso estar seguro de que ela esteja aberta. Meu amigo Fernando precisa sentir-se capaz de assumir um novo papel, qualquer que seja, pelo prazer de fazê-lo.
Os processos podem ser reconhecidos e explicitados ao infinito. Tome-se como exemplo o valor energia, como processo. Energia é o termo utilizado pelos gregos para indicar a atitude dos escravos mais robustos de cultivar os campos e realizar trabalhos pesados. O termo retorna, com outro sentido em outro contexto, na segunda metade do século XVII na Europa, quando a paisagem rural aparece pontilhada de moinhos de cereais. Então, expressões como energia do vento, energia da água, energia do fogo tornam-se correntes. Energia passa a significar capacidade de produzir trabalho. Posteriormente, reconheceram-se e explicitaram-se outras formas de energia, outros processos, tais como a energia cinética, química, elástica, elétrica, magnética, gravitacional, radiante e térmica. Esses mesmos processos, operando agora em novas configurações teóricas contextuais, recebem delas novas propriedades, reorganizando-se em energia mecânica, de ligação, potencial, interna, &c.
Um outro exemplo é o processo «trabalho», uma interface contextual moderna, que não encontra correspondência funcional em outras culturas. Não se pode dizer, propriamente, que o indígena trabalha, no desempenho dessa «função», considerada de forma isolada: ele trabalha, diverte-se, cultua a natureza, exercita-se fisicamente, faz arte, educa-se, a um só tempo. O processo «econômico» é de reconhecimento tardio na história: não fazia sentido referir-se a ele, na nossa perspectiva contextual, antes do reconhecimento da troca, da moeda, da agricultura que, ao tornar a existência social sedentária, passou a exigir grandes obras de irrigação: o poder político subjugou os agricultores, e da violência do Estado contra a sociedade surgiu o «econômico» e, mais tarde, o «capital», a «mão-de-obra», alucinações reais tão mais caóticas e delirantes quanto mais se assumem como «funções» naturais, auto-suficientes.
Em sua metamorfose, os processos, uma vez integrados num determinado contexto, apresentam-se, pois, como um balet, cuja coreografia se redesenha em ato, em formações diáfanas, mais ou menos duradouras, ao tempo em que transcorre o espetáculo. A evocação da idéia de metamorfose instiga a que não se confie na aparente fixidez e naturalidade dos processos, como profilaxia para evitar de tratá-los isoladamente fora de contexto (a realidade abstraída é de vocação sedentária). Ao fazê-lo, cai-se nas relações de causa e efeito, na hierarquização dos papéis, no mecanicismo, projetando sobre outros contextos, no passado ou no futuro, modos de operar das abstrações que não lhes correspondem.
Esse procedimento equivocado caracteriza toda antropologia filosófica que, sem se dar conta de estar enxergando através das lentes do Iluminismo, confere uma finalidade útil à natureza e aos objetos, em razão de sua transformação pelo trabalho e das necessidades humanas. Assim procedendo, ignora que utilidade, necessidade, trabalho, escassez e natureza são noções ideológicas, irmãs gêmeas da emergência, no século XVIII, do trabalho como fonte de riqueza e das necessidades como finalidade da riqueza produzida. Se a antropologia fizesse recuar no tempo o seu objeto de estudo –e ela o faz, atualmente– poderia observar que ainda no contexto do século XVII a natureza, por exemplo, significava apenas o conjunto das leis que dava inteligibilidade à ordem entre os seres humanos, mediados nas suas relações pelas coisas, e não um potencial de forças, metáfora, ou modo, como a natureza será concebida no século seguinte pela nova ficção, ao mesmo tempo origem e produto do capital –o Homo faber.
Como resultado do exercício de reconhecimento e explicitação dos processos, tem-se a oportunidade de enxergar os riscos, para escolher o menor: não há decisão sem risco. O risco, como lembra Fuad Gattaz Sobrinho (2002), é o esforço despendido na direção errada (desperdício), naquela não desejada. Não se controlam os processos, e sim o espaço que se delimita para reconhecê-los e, assim, poder enxergar os efeitos colaterais que resultam de suas interações. Homero ilustrou essa intuição no episódio da Odisséia em que Ulisses teme por se deixar seduzir pelo canto das sereias: como acredita que nada pode contra elas, ele faz atar-se a si mesmo no mastro da nau, para não ceder ao próprio desejo.
Os efeitos colaterais que resultam das interações entre processos são também processos (um filho, por exemplo), já que processo é todo valor humano e, nessa condição, gera somente reconhecimento de valor; em razão disso, o processo, ou o contexto, é auto-recorrente. É dizer que o processo, ou o contexto, não se deixa controlar. Observe-se como procede o surfista sobre as ondas do mar: ele busca reconhecer os efeitos colaterais, resultantes das interações entre as ondas do mar e a sua prancha, que incidem sobre o seu estado de equilíbrio, para poder prosseguir. Não se controlam os processos, porque eles são o que enxergamos na realidade, e é esta que nos controla tanto quanto descontrola a nossa ilusão de controle, assim como o mar ao surfista.
A seguir, apresento alguns princípios que orientam a Política do Sujeito e que se constituem a razão de ser deste livro. São princípios intuitivos, patrimônio comum da humanidade. Limitei-me a redigi-los, pois a sua coleta e organização é obra de Fuad Gattaz Sobrinho.
Paralelismo
O princípio do paralelismo diz que os processos são paralelos, autônomos e interdependentes; suas propriedades são derivadas da referência do contexto, titular da auto-suficiência no comando da interação entre processos paralelos e autônomos e responsável pela geração de referências. Autônomos e paralelos: não há relação de causa e efeito entre eles, senão interações cujos efeitos colaterais, ao incidirem no contexto no qual interagem, estimulam à sua mudança, ou à variação no modo como interagem, caracterizando-os como novos processos. Interdependentes: o que estabelece a interdependência entre os processos é o contexto no qual interagem.
Sendo o processo, ou contexto, por definição, auto-recorrente, assume-se que o esforço do pensamento e do sentimento produz, ao longo do tempo, não o conhecimento cumulativo, e sim novos estados de ignorância, ou estranhamento do que parecia familiar, para que se possa enxergar a diferença entre a abstração (os processos consolidados na cultura) e a realidade (espaço das possibilidades). Uma das ilusões mais correntes veiculadas pela ideologia da coisa, na atualidade, é a idéia de que a melhoria das técnicas e o avanço da tecnologia estaria nos levando em direção ao momento apoteótico em que a agarraríamos no seu âmago (cf. a idéia de propriedade, associada à de escassez e de subjugação da natureza). Esse momento, termo final do tempo linear e do progresso automático, é o da parada definitiva do trem na estação Paraíso. Na ideologia dos foguistas de locomotiva –entre os quais encontram-se Marx, com a sua infra-estrutura gerando o vapor que aciona a superestrutura; e Freud, com a pressão da caldeira de seu id e as suas válvulas de controle do ego e do superego–, a imagem da felicidade estaria no compartimento de carga, que leva lenha ou carvão: uma vez cheio, não se enche mais. Felicidade quantitativa.
Mas a verdade é que à medida que uma disciplina como a arqueologia, por exemplo, passa a dispor de mais recursos tecnológicos e técnicos –tais como a apuração de datas por meios físico-químicos, prospecção geofísica, fotografia aérea, &c.– não é somente o sujeito da disciplina arqueologia que se transforma, mas também o seu objeto. Este, por sua vez, ao se transformar, estimula reciprocamente a transformação do olhar do arqueólogo, num processo infindo, em interação com outras disciplinas e outros objetos, no qual novas aparecem enquanto outras desaparecem, cada uma delas frente a um novo sujeito e um objeto de estudo. A cada mudança de perspectiva, ou de referência, tem-se um novo mundo a explorar. Os sonhos já não são os mesmos, porque se está diante de uma nova ordenação do repertório de sonhos a sonhar e de novos modos de realizá-los.
Continuidade e descontinuidade não se dissociam: ignorância e sabença disputam um mesmo espaço de possibilidades, solidárias na sua inclusão recíproca. Em razão da inclusão, recuperam-se processos do passado, mas não sem recaracterizá-los antes por um novo modo de interagir: seus suportes são atualizados com os novos expoentes de valor que lhes empresta a referência do novo contexto. Alguns desses processos, como o valor cataplasma, são deixados de lado pela medicina, não se sabe até quando. Outros, que haviam sido relegados à irrisão –tais como os valores sanguessugas, segurança alimentar e sustentabilidade, estes dois últimos indissociáveis nos tempos carolíngios–, retornam com vigor em outros tempos, recuperados por novas referências, ou novos modos de interagir. Registre-se que não se trata de uma dança caótica ou aleatória: é um novo estímulo do meio, ou uma nova referência do contexto, que os traz de volta, assim como foi um novo estímulo do meio, acolhido por um novo contexto, que fez deles passado, dentro de uma mesma continuidade, que se faz contínua na sua descontinuidade. Vive-se tudo a um só tempo e se deseja viver sempre mais tudo.
* * *
A escola de meus sonhos não mostraria; estimularia a renovação dos modos de enxergar.
O princípio da co-evolução
Por que princípio da co-evolução, e não princípio da evolução, termo mais corriqueiro? Gattaz Sobrinho responde: «Porque «evolução» reconduz à idéia ideologicamente equivocada segundo a qual os processos, por serem autônomos, seriam auto-suficientes e, nessa condição, capazes, cada um isoladamente, de puxar o comboio da cultura ou crescer puxando os próprios cabelos. Não há processo que opere isoladamente ou diretamente sobre outro processo, senão mediante as suas interações no contexto, razão por que é preciso enxergá-lo no seu estado de interdependência com outros processos. Ao se atribuir ao capital –uma determinada relação social que se fantasia ideologicamente de coisa–, a soberania normativa e prática sobre a realidade, está-se reconhecendo objetivamente, nessa sua pretensão à auto-suficiência à frente dos processos, uma patologia social.
A ilusão da auto-suficiência dos processos vem de se identificar o sujeito da lógica gramatical com o sujeito de carne e osso, a abstração com a realidade. Uma ilusão que arrasta consigo um cortejo de ilusões: a causalidade, a determinação em última instância, a hierarquização dos processos, a probabilidade, &c. Nessa ilusão incorrem também os devotos da «lógica da totalidade», que a tomam por dialética. A ilusão expressa a crença em que as palavras controlam as coisas, como se a sintaxe, por embeber as regras construídas pela prática cultural, dispusesse do poder de conter a realidade nos limites da gramática. Ora, sabemos: quem puxa a carroça é o burro, não o carroceiro, o único entre os três –carroça, burro e carroceiro– capaz de dizer aonde quer chegar. Na condição de abstração, a sintaxe é de grande utilidade para indicar que nela não está a solução, ao apontar para a diferença existente entre ela e a realidade. Esta não se deixa prender, tanto assim que há tantas gramáticas quantos modos possíveis de emprestar significações ao mundo. A emergência de um novo objeto no espaço sintático ou semântico, para nele fixar-se numa forma, não autoriza que se assuma essa forma como capaz de estar ali por sua iniciativa, nem por iniciativa da gramática. Essas regras gramaticais não têm poder algum sobre a realidade, espaço de todos os possíveis, que autoriza todo tipo de jogo e todo tipo de regras.
A inconformidade, o ressentimento e a rebeldia da racionalidade – que não consegue abranger a realidade inteira, porque dela é parte –levam-na a desqualificar como legítima a pulsação latente, presente na fase «animal» da experiência, que irrompe com ênfase desarticulada no espaço da percepção, como a solicitar atenção para os seus máximos de intensidade, na forma de prazer, dor, susto, expectativa, esforço. A existência da gramática vem apenas atestar que o ser humano é capaz de fixar essa premência, variável nos seus modos e na sua intensidade, na forma de atenção. Não fosse assim, seria impossível manifestar-se em palavras e demarcar o antes e o depois, no construção da coerência com que buscamos explicar a nós mesmos a experiência da existência. Assim, consegue-se distinguir a experiência de um e de outro momento; e se é pela gramática que damos forma manejável a esses momentos, estabelecendo entre eles relações temporais, por exemplo, não é do espaço por ela delimitado que eles brotam –nele apenas se manifestam como produto da elaboração humana, que tem origem aquém, e vai além, da gramática: na prática social.
Essas formas consideradas isoladamente correspondem aos estereótipos. É dizer que, a exemplo da crosta terrestre, flutuam como blocos de coesão provisória sobre o magma das interações, em cuja fluidez a percepção tem seus sensores mergulhados, na sua tarefa de reconstruí-los, para dissolvê-los outra vez, e assim indefinidamente.
Por isso, em vez de entender a história ou o mundo como uma seqüência de unidades que se fecham nos compartimentos unívocos da gramática, Heráclito os faz fluir como um rio, sempre o mesmo e sempre outro: «Nas correntes dos mesmos rios, entramos e não entramos, saímos e não saímos», afirma ele. «O problema são as palavras, sempre as mesmas, para uma realidade inquieta», escreve Donaldo Schüler (2000), na sua encantadora leitura do filósofo grego. «No rio, não entramos como uma pedra: somos o rio com o rio. Como poderia um nome conter o que vivemos? Teria que ser um nome profético. Como os nomes não antecipam nada, nós os retocamos todos os dias. Os nomes são móveis como os rios que nos atravessam». O que é o rio para nós? Um comportamento, assim como o é, na sua eqüivalência, para as traíras, as tilápias e os tucunarés, peixes que em abril, no Sul e Sudeste, buscam no fundo do leito o alimento que não encontram na superfície, onde costumam capturá-lo em estações menos frias: respondem a um estímulo de seu contexto, em mudança como resultado das interações incontroláveis, que nele ocorrem.
Gregory Bateson (1979), ao expor a mesma idéia, sugere que se considerem dois caçadores de pássaros. E Gattaz Sobrinho retoma a mesma analogia para explicitá-la mediante o princípio da co-evolução. O primeiro caçador olhará o pássaro em movimento no ar através da alça de mira de sua espingarda e observará um erro na sua pontaria. Ele corrigirá esse erro, provavelmente criando um novo erro, que novamente será corrigido, até que esteja satisfeito. Então apertará o gatilho. A autocorreção ocorre, pois, dentro do processo de atirar, dentro do contexto. A vantagem do procedimento é a oportunidade de aprendizado que oferece a partir dos erros, que de outra forma não se manifestariam, deixando o caçador sem condição de identificá-los.
Observe-se que o efeito colateral de um erro é sempre positivo sobre o efeito colateral do erro seguinte - e quem oferece a garantia de que assim seja é a cabeça de quem tem a arma na mão. Sem a cabeça, ou a instância auto-recorrente do ser humano, que sincroniza a operação –a mesma cabeça que em geral não tem acolhida no mundo das causalidades, da hierarquia dos papéis e das probabilidades– não se sabe se é erro ou acerto, porque não se tem o contexto. Esse caçador acertará o alvo porque tem solta a sua realidade, a capacidade em ação, o controle do risco. A realidade, o pássaro, foge-lhe ao controle, mas é em razão de o pássaro estar fora de controle que ele terá desenvolvido sua destreza de atirador. Fosse o pássaro um espantalho, não encontraria prazer na prática do esporte. O processo não seria inteligente, não haveria sonhos a sonhar, não haveria utopias a retirar do futuro e fazê-las presente na alça de mira. O processo somente é inteligente ao se reconhecer algum valor no contexto, quando o desafio dá-se entre duas mudanças: o deslocamento do pássaro e a autocorreção do atirador. Eis a co-evolução.
O segundo caçador está olhando para o pássaro enquanto tem a arma de fogo sobre a mesa junto à qual está sentado. Quando pegá-la, não haverá possibilidade de correção do erro no ato de atirar. Nisto consiste seu entretenimento autista: dar-se conta da destreza que adquiriu ao praticar repetidamente sua arte atirando antes em pratos e outros alvos simulados. A calibragem ocorre, pois, fora do contexto da caça. O pássaro está imobilizado na fantasia de sua destreza. Se o atingir, concluirá que era o que estava previsto no exercício de sua calibragem. O controle sobre a realidade da calibragem corresponde à imobilidade imaginária do pássaro. Nesse caso, a capacidade de autocorreção está imobilizada, o risco é total, o desperdício inimaginável, a utopia nenhuma, o sonho apagado, porque, antes de atirar, o pássaro já estaria preso nas suas premissas. Eis a visão linear, descontínua, digital.
Quem controla quem: eis a questão suscitada pelo princípio da co-evolução. Se é a realidade que controla o controlador e não o contrário, será preciso, então, libertar os papéis de sua dependência mecânica em relação a seus estereótipos e retornar ao mundo real, no qual o atirador não tem certeza de que conseguirá atingir o pássaro. Mas é a incerteza que põe em ação a sua criatividade, no exercício de sua destreza. Terá de envolver-se com a realidade, como estão engalfinhados os galos na rinha. Será preciso enxergar-se a si mesmo e o pássaro no seu contexto.
No exercício da calibragem fora do contexto, o ser humano só tem a perder, porque deixa de ganhar. A inteligência da realidade não é incorporada quando nos abstraímos do mundo. Não existem paradas para a manutenção do cérebro. A mente promove a sua autocorreção na realidade que não controla, graças ao fato de não controlá-la. Pudesse controlá-la, a mente viraria uma pedra, uma categoria gramatical, um nome, imobilizada no controle que não se deixa descontrolar, impedindo-a de realizar a autocorreção no exercício de se livrar do suposto controle que exerce sobre a realidade.
Tudo o que é humano é necessariamente co-evolutivo. O resultado do aprendizado incorpora-se espontaneamente à pessoa que aprende, mudando a sua visão de mundo –e essa mudança leva-a a reconfigurar a realidade abstraída, com o que ela estará diante de um novo problema, que suscita uma nova solução e assim indefinidamente. Nada do que é humano pode ser descrito ou previsto em termos de causalidades, inferências e deduções. Da criação de uma tecnologia ou de um complexo tecnológico, como o automóvel, não se podem deduzir ou explicar comportamentos. Estes encontram explicação na co-evolução. Não estava previsto na criação do automóvel –à moda de premissas em relação à conclusão– que o sonho da locomoção individual sobre rodas, da liberdade de conquistar distâncias e fruir do prazer de conhecer outros lugares assumisse a configuração atual da vida social, como está expressa nas marcas que imprimimos, com seu uso, no território, na cidade, na demografia, na qualidade de vida com a poluição sonora e atmosférica, na construção de garagens, rodovias, redes de serviços automotivos, clubes, competições esportivas, revistas, filmes, indústrias associadas, &c. É a co-evolução da tecnologia e do sonho de viajar, processos independentes, paralelos, porém não auto-suficientes, que permite enxergá-los como «partes» constitutivas de um mesmo problema, ou contexto, em cujo espaço se encontra também a solução.
Ao refletir sobre a mudança aparentemente errática desses processos, Georges Canguilhem observa que, se erro existe, é o erro ou o desvio da própria vida, pois o erro –a doença, no contexto de sua reflexão–, provém do fato de que a ordem anteriormente visada pelo organismo era a ordem positiva da saúde. O erro proviria justamente da intervenção da ordem visada. A própria vida, errando, nas peripécias contextuais de sua evolução, teria dado origem a este ser capaz de errar –o ser humano. É o que não admite a visão clássica, ilusoriamente segura de que está lidando com a objetividade das coisas, com a verdade científica divorciada de seu erro, sem ambivalências contagiosas e interativas, sem co-evolução. Apenas a abstração infecunda de sua simetria.
Uma vez afastada a ilusão da causalidade e da hierarquia entre os processos, emerge a convicção de não se poder resolver adequadamente o problema de forma seqüencial. Uma coisa vem depois da outra somente no plano da abstração do tempo linear. Ao obedecer ao tempo linear, coíbe-se a oportunidade de enxergar a co-evolução do problema, que será outro enquanto ficamos para trás empenhados em hierarquizar as suas partes. Quando um conjunto de funções interage para produzir um objetivo, o próprio objetivo provoca mudança nas funções que, então, já não podem ser as mesmas. Isso nos leva à evidência de que é no espaço do problema que se enxerga a sua resolução, e é no espaço da solução que se embebe o novo estado do problema. A solução redefine o problema: a realização de um sonho desperta outro, que é preciso realizar e ainda não se sabe como. É certo, porém, que se vai divisar o «como» no mesmo espaço em que o sonho se faz presente, para despertar uma nova maneira de sonhar.
Um parêntese
O termo «equivalência», que caracteriza as operações algébricas, foi evocado mais de uma vez neste livro. Ora é o gato que reconhece o calor da caixa metálica do modem de TV a cabo como equivalente ao calor das cinzas do borralho; ora são as plantas domesticadas, que retiram o nitrogênio na forma mineral do petróleo, na ausência de disponibilidade na sua forma biológica, provida por microrganismos; ora é meu amigo Jorge que se enxerga como Jorge tanto no papel de pai quanto no papel de gastrônomo. Os papéis são temas equivalentes nos quais se exercita Jorge, assim como um artista se deixa conduzir na sua criatividade pelas configurações de seus devaneios.
«Equivalência» remete à idéia de que a natureza inteira estaria a imitar os poetas, tematizando a vida e o mundo mediante o emprego de analogias e metáforas. O mundo –e não somente o ser humano– seria a expressão de uma obra de arte em construção. O certo é que somente conseguimos enxergar o que se encontra à nossa volta do modo como enxergamos a nós mesmos –tematizando-nos metaforicamente, simulando outros mundos possíveis, equivalentes.
Foi a álgebra de Al Khwarismi que, inspirada na aritmética e na geometria, permitiu trazer para dentro da matemática a eqüivalência, expressa ao mesmo tempo em termos de identidade e de diversidade, quantidade e qualidade. Da geometria, retirou a noção qualitativa de proporcionalidade; da aritmética, a noção quantitativa de identidade. Assim, qualidade e quantidade, sob o signo da equivalência, puderam expressar-se sob um mesmo símbolo ambivalente ( = ), tornando possíveis as operações algébricas. Uma melancia eqüivale a três bananas, de acordo com as regras contextuais de equivalência, estabelecidas de comum acordo entre os interessados em trocar uma por outras, ou x = 3y. A diferença, ou a novidade, introduzida pela expressão algébrica está em que o símbolo (=) não os reduz a uma mera identidade, como ocorre na aritmética, pois a melancia continua sendo melancia e as bananas, bananas.
Diz-se que a álgebra –é assim que ela se desenvolveu em solo mediterrâneo– teria surgido das necessidades do comércio, da troca entre produtos cuja equivalência se busca estabelecer de acordo com uma determinada regra de conversão. As regras de conversão são contextuais, porque dependem da natureza dos objetos a trocar, e o valor monetário dos objetos a trocar, por sua vez, depende da referência do contexto dos interessados, responsáveis pela criação, negociada, das regras de conversão. A equivalência coloca, assim, no centro da reflexão humana, a questão da auto-recorrência, ou a questão do que o ser humano pretende fazer de si mesmo: não há regras estabelecidas de uma vez por todas, e sim regras contextuais, que variam de acordo com a variação dos contextos. Isso não é o mesmo que dizer que tudo é relativo, pois a referência é sempre a mesma –comprazer-se na existência, e esta, como atesta o exercício da troca, não é puramente subjetiva, por implicar o outro necessariamente.
Aprende-se na antropologia que as trocas, no sentido mais amplo do termo, são a primeira expressão cultural da sociabilidade. Vendedor e comprador, ou parceiros na troca, precisam reconhecer-se como tais na unidade de sua diversidade –seres capazes de trocar, mediante a eleição de regras aprovadas de comum acordo, sem as quais o negócio não pode realizar-se. Tem-se aí a equivalência, a álgebra humana. O reconhecimento da eqüivalência estende-se, obviamente, para além do mundo dos negócios, no qual é apenas uma de suas manifestações, tanto mais que o comércio, no momento histórico em que surge a álgebra para facilitar-lhe as operações de equivalência, não se dissocia, embora seja distinto, de outros valores humanos, tais como o exercício da sociabilidade, o diálogo, a amizade, a hospitalidade, a defesa da palavra empenhada, a honra, o respeito mútuo, &c. O comércio, no período da irrupção da álgebra para dentro do mundo das trocas, não é uma função que possa ser isolada de outras «funções» humanas. É expressão de uma ação integrada, que se caracteriza pelo conflito entre os valores que ela integra, como a ética, por exemplo, que não se deixa reduzir à dimensão da utilidade, embora com ela coexista em conflito no mesmo espaço solidário.
Não por acaso, o diálogo, que pressupõe o reconhecimento da diversidade, emerge na história da cultura como valor fundante da cultura árabe e, por extensão, levantina e islâmica, em contraposição ao individualismo liberal. Este ignora o diálogo, porque despreza normativa e metodologicamente a importância do outro, uma equivalência que não se deixa reduzir à identidade. A pechincha, que caracteriza o conteúdo do diálogo na troca, é a manifestação no plano do comércio de um valor antropológico e ético central na cultura levantina. É o reconhecimento desse valor que a define –o valor da diversidade. Ao valor da diversidade opõe-se o pensamento único, a soberania ilusória da identidade sobre a equivalência, ilusão que pretende sufocá-lo. O valor da diversidade é a expressão da afirmação reconhecida da equivalência entre seres humanos ou entre culturas que, de comum na sua equivalência, têm o fato de serem humanas.
No jogo algébrico da pechincha, tem-se que, para enxergar melhor a realidade cada um dos parceiros precisa acolher dentro de si a visão de outrem; acolhe a visão de outrem, não para concordar necessariamente com o que o outro pensa, mas para melhor se dar conta do que pretende para si mesmo. Busca no reconhecimento do interesse do outro o reconhecimento do próprio interesse. Interessa-se por enxergar o que o outro enxerga, porque está interessado em enxergar o seu próprio contexto e o contexto da troca. Numa operação inversa e complementar, constitutiva do mesmo jogo, cada um dos parceiros precisa sair de si mesmo e se colocar na perspectiva do outro, para sentir o que o outro sente, valorizar o que o outro valoriza, sem ter de renunciar à própria perspectiva. O êxito da operação mede-se pelo assentimento mútuo quanto às regras de conversão, resultantes desse exercício, regras que mudam de acordo com o contexto, enquanto na aritmética, ao contrário, as regras contextuais da identidade são indiferentes à mudança do contexto. A importância filosófica, ética, cultural e política do paradigma algébrico, que é também o dos amantes, está em enfatizar que são os seres humanos que criam as regras, às quais obedecem por opção, e não são as regras que criam os seres humanos. Sendo a identidade de natureza tautológica, é fácil perceber que somente a diversidade permite compreender a co-evolução do contexto.
O homem da pechincha, que exercita a sociabilidade na troca, sabe que cada pessoa, individualmente, tem as suas limitações; é-lhe conveniente, pois, recorrer à visão de outrem, para enxergar melhor a própria realidade. Quanto mais diversa a opinião, mais se enxerga, pois somente se aprende mediante o reconhecimento da diferença, e não da identidade. É quando a compreensão da realidade se torna mais rica e mais robusta, em razão de sua diversidade, no conflito e na solidariedade. Transpor a lógica da identidade, da prevalência da abstração sobre a realidade, para inclui-la no espaço da equivalência, é não somente uma exigência ética, mas também uma condição de enriquecimento da sensibilidade e da percepção do mundo e dos outros, mediante a incorporação de outras visões, assim como se refina o paladar provando sabores diferentes.
Essa visão de mundo, introduzida no ocidente pela cultura árabe, que se abeberou na cultura helenística, teve profundo impacto sobre o modo como os mouros souberam recorrer à sedução, antes que à violência, para dominar a Península Ibérica por sete séculos. Eles são os responsáveis no Ocidente pela valorização inaugural do ecumenismo: nos califados de Córdoba ou de Bagdá irmanavam-se, no estudo das ciências, da filosofia, da astronomia, da medicina ou da agronomia crentes de todos os monoteísmos, os chamados «povos do livro» (Bíblia). Ao passo que os cristãos são responsáveis pela difusão do preconceito e da intolerância, de que são testemunho as cruzadas e a perseguição que se seguiu ao Tratado de Granada, que selou a expulsão dos mouros da Europa.
A ênfase na equivalência, como lugar natural da dimensão política na sociedade e na cultura ocidental teve origem na Grécia, como se mostrou, com Sólon, legislador de Atenas, com o filósofo Heráclito, com os sofistas e também com Aristóteles. Nos tempos modernos, é Espinosa –filósofo que deve a sua formação intelectual ao resultado da interação entre as culturas árabe, judaica, cristã e oriental–, quem retoma a equivalência como valor paradigmático da condição humana.
No resultado exitoso do diálogo, ou da pechincha, Gattaz Sobrinho enxerga a aplicação de dois princípios, que enunciou sob os nomes de princípio da inclusão e princípio do reconhecimento. A seguir, apresentam-se o princípio de inclusão e o princípio do reconhecimento.
Inclusão
No episódio de seu naufrágio na ilha de Ogigia, em viagem de volta à casa, Odisseu, o herói mítico da Odisséia, mantém-se ao longo de sete anos dividido entre o desejo de permanecer e o desejo de partir. Calipso, a mais linda das deusas, que o tem entre os lençóis, quer torná-lo imortal; mas ele reluta, sonhando com voltar à esposa Penélope, em cujos braços se reconheceria como humano e herói da guerra de Tróia.
Sentir-se como palco de disputa entre sonhos conflitantes, porém prazerosos e arriscados, é reconhecer-se como ser humano –desejar comprazer-se na existência. É somente no plano da abstração que as «opções» tornam-se excludentes. Nesse caso, é-se forçado a «optar» entre o Bem e o Mal, entre o certo e o errado, entre a recompensa e o castigo. Essa é a «liberdade» oferecida à maçã da ciência: cair do galho. Aqui, não haveria opção ou razão por que decidir, nem prazer nem risco: tudo está decido de antemão. É conformar-se à «lei da gravidade».
A realidade humana, a singularidade da existência, compõe-se de eventos conflitantes entre si, que coexistem num espaço unitário de possibilidades. Unitário: as possibilidades são também solidárias, porque se legitimam umas às outras, exponenciando-se mutuamente. Remover-lhes o caráter conflitante corresponde a saltar do plano da realidade para o plano da abstração – e neste, como se discutiu anteriormente, as «opções» são excludentes: um ou outro; e não: um e outro. No plano da realidade, Odisseu, num mesmo gesto, diz não a Calipso e sim a Penélope; não à imortalidade e sim à humanidade.
No plano da abstração não há risco nem prazer algum, e vive-se na ilusão de controlar a realidade. No plano da realidade, quem controla é a realidade, como as ondas do mar controlam o surfista: a vantagem nesse caso é que se tem a possibilidade de enxergar o risco e divisar o prazer, que dele não se dissocia. O risco, como se disse, é o esforço empenhado na direção não desejada.
O risco é inerente à decisão. Esta é necessariamente arriscada, por delimitar uma realidade que muda ao tempo em que está sendo delimitada. Como resultado do planejamento estratégico, tomam-se decisões que, em seguida, precisam ser revistas porque a «realidade mudou». Na verdade, o que mudou foi o modo de se enxergá-la: se o estratego tivesse sabido que a realidade é um estado de mudança, não teria pretendido congelar a co-evolução do contexto, que ele não controla, quando planeja. É porque não se exercita no planejamento estratégico que o surfista consegue manter-se sobre as ondas do mar. O que ele faz, ao se deixar levar pelas ondas da mudança, é confiar no controle que sobre ele exerce a realidade do mar. Ao se entregar ao prazer de surfar, o que faz o surfista é controlar o risco, e ele o consegue no exercício de simular todos eles, incluído o pior, para escolher o menor.
O reconhecimento do caráter irremovível do risco, ou da incerteza, na ação humana leva-nos aos princípios da inclusão e do reconhecimento. As ciências da objetividade os desconhece, porque assumem, apoiadas nos axiomas identitários da lógica ou da matemática, que a sua verdade é indiscutível até que outra verdade indiscutível a remova. As ciências da objetividade não simulam, não devaneiam, não sonham com outros mundos possíveis, outras perspectivas eventualmente válidas e legítimas. O cientista médico Simão Bacamarte, personagem tragicômico de Machado de Assis, não hesita, não duvida, não vacila no exercício de sua racionalidade, dissociada da intuição e dos sentimentos, separação que é de rigor no paradigma da objetividade impessoal. Agindo racionalmente de modo excludente com base em critérios retirados da lógica ou da matemática –abstratos, portanto– , ele divisa com absoluta segurança a linha que separaria a razão da loucura e põe-se a dividir os habitantes da vila entre mansos e furiosos (cf. Manzano, N. T., 2002).
O êxito no controle do risco pressupõe que se «deixe a realidade à solta», para melhor enxergá-la. Não é possível saber como se comportaria um cão que tivesse estado sempre preso à coleira. Para se poder lidar com a realidade, é preciso que ela esteja em condições de exibir-se, induzindo-nos assim a perceber a diferença entre o que supomos que ela seja e o que de fato é, ou como se comporta. Esse exibir-se não tem fim, pois a realidade é constituída de infinitas dobras: basta mudarmos de contexto para enxergá-la de modo diferente.
No preparo da comida, a cozinheira exercita-se na dimensão feminina por excelência, que é explicitá-la (explicitar-se) de todos os modos possíveis, para que desperte o apetite. Ressalta-lhe o aroma, a cor, a forma, a textura, o sabor, assim como o exibe à mesa com gosto e arte. O que a entretém é a possibilidade de interagir diferentemente com as propriedades do alimento, para adequá-lo à variação dos contextos nos quais é servido: para cada filho, de acordo com a sua preferência, mais passado, menos passado, ao ponto, em rodelas ou inteiro. Assim como o teor nutritivo dos alimentos, as propriedades que se buscam enxergar no contexto são-lhe implícitas: é preciso explicitá-las. Meu filho, que gosta de música, apenas suspeita de que gosta também de desenhar. Precisa entregar-se com prazer ao desenho, para sentir se de fato é o que mais lhe agrada, no caso de ter de se decidir entre uma coisa e outra. Tem-se aí novamente o conflito. Em vez de ignorá-lo, é preciso reconhecê-lo como constitutivo da realidade. O intento de suprimi-lo obedece ao princípio de identidade, que nos leva a confundir o sujeito lógico gramatical com o sujeito de carne e osso. No plano da existência, buscam-se reconhecer as equivalências. Historicamente, a redução de um plano a outro, da realidade à abstração, corresponde à exclusão dos menos afortunados no capitalismo, aos campos de concentração no bolchevismo e, «cientificamente», ao hospício do Dr. Simão Bacamarte. Assim procedendo, constroem-se mundos fechados em si mesmos, estranhos uns aos outros, excludentes, digitais, neoliberais, incomunicáveis, que passam a controlar a realidade em vez de se deixarem controlar por ela.
Quanto mais diferentes forem os modos de se enxergar a realidade, mais se enriquecerá a visão que se tem dela, mais possibilidades se explicitarão, mais amplo o leque das opções, mais intensa a sensação de liberdade de escolha, mais prazer, menor o risco. Observe-se que um novo modo de enxergar a realidade não resulta necessariamente do dispêndio de esforço algum: é se entregando ao prazer de um bom prato que se divisam outras possibilidades no mundo da gastronomia, sem esforço. É por se ter escolhido um caminho que se divisam outros como igualmente possíveis. É por se reconhecer um valor (humano) no contexto que se divisa a possibilidade de exponenciá-lo em interação com outros valores. É por se comprazer na existência, mediante a sua modulação, que se pressentem outros prazeres –sentimento da incompletude. Por isso, é ilusória a proposta analítica, no seu isolamento, que acredita em poder revolver todas as dobras da realidade, para exauri-la. A realidade é inesgotável, e somente se entrega a quem se entrega a ela.
Em vez disso, propõe-se o exercício da inclusão: acolher dentro de si todas as visões possíveis, conflitantes e inconsistentes entre si, não importa. A realidade, que não é identitária, é o que se faz presente nessas visões. Estamos na realidade; entre nós e ela não há distância nem vazios; isso não quer dizer que ela seja transparente. Ela é diversa, e a sua diversidade estende-se ao infinito. Admiti-lo significa evitar de fazer julgamentos, pois estes –por definição abstratos– privam-nos do acesso a ela. Não que se devam acolher outras perspectivas, outras visões de mundo, para aprová-las. Trata-se tão somente de enxergá-las, como possíveis de ocorrer no meu contexto, que não controlo, para poder divisar nele efeitos colaterais que me estimulam à mudança –a reconhecer neles a solução que buscava para o problema. Ao se proceder dessa maneira, observa Gattaz Sobrinho, o risco de se enfrentar um evento indesejável é bem menor. Pois, com a inclusão, estimula-se também a compreensão dos eventos indesejáveis, mediante a exercitação do maior número possível de visões do problema. Dessa forma, pode prever-se a possibilidade de ocorrência de tais eventos, preparar-se para enfrentá-los e evitar o desperdício de se estar empenhando esforços na direção de um mundo que não virá.
A visão analítica da objetividade impessoal é a visão da exclusão. Isolam-se as múltiplas maneiras de enxergar a realidade de forma abrupta, conferindo vida própria a cada uma delas, como se as partes pudessem representar isoladamente o todo. Com o exercício do princípio da inclusão, remove-se o preconceito, que resulta da recusa em se admitir outros modos de a realidade se comportar, igualmente legítimos. O preconceito de Simão Bacamarte consiste em acolher como único valor humano a racionalidade. Ao desprezar a intuição, os sentimentos e a ética, a sua prática científica e médica gera caos – é o caos que lhe obstrui o acesso ao reconhecimento da própria realidade.
Reconhecimento
O princípio do reconhecimento exercita-se na direção oposta ao do princípio da inclusão, não se opondo ambos entre si, em razão de seu caráter includente. Enquanto o princípio da inclusão leva-me a acolher a visão de outrem dentro de mim sem discuti-la, o princípio do reconhecimento convida-me a me instalar na visão de outrem, esforçando-me em suspender a minha própria visão da realidade, para poder melhor enxergá-la, na diferença entre a sua perspectiva e a minha.
Com a autorização de Gattaz Sobrinho, limito-me a transcrever o que ele propõe como reconhecimento:
«Reconhecer é enxergar-se nos outros. É enxergar-se como sendo o outro. Reconhecer no outro a si mesmo é sentir o que o outro sente. O outro não se limita aos seres humanos, mas é também a planta, a pedra, as coisas. Ser é ser todos os outros. Ao enxergar-se no outro, o outro passa a ser uma interface do eu, e o eu são as suas próprias interfaces. Existir é expressar-se mediante a variação do repertório dos modos de existir - e entre esses modos está o existir como outro. Existir desta ou daquela maneira não é coincidir consigo mesmo, mas encontrar-se na iminência de ser outro, aquilo que não se é, sendo outro.
«A experiência humana por excelência é a experiência do outro. Ser é ser outro, é ser o que não se é ainda ou o que não se é mais, sendo outro. Não há, pois, coincidência ou identidade lógica do sujeito consigo mesmo. A eficácia no exercício do princípio do reconhecimento vem de que o eu não se confunde com o outro; ambos não se anulam na sua suposta identidade homogênea, como ocorre com as forças vetoriais na Física. Enxergar-se no outro é enxergar-se diferente de si mesmo, à luz de uma realidade inesgotável que lógica alguma exaure. O outro é e sempre será ao mesmo tempo familiar e estranho, próximo e distante, opaco e translúcido, abordável e inabordável, acessível e inacessível. Por mais intensa que seja a empatia, não há fusão das identidades: o outro permanece sempre exterior ao sujeito, no espaço de uma exterioridade que, feita de diferença, lança luz sobre a consciência do próprio eu, constituindo-o como sujeito –a diferença da diversidade na unidade. Admitir que o outro possa ser objeto de posse exaurível pela apropriação por parte do eu, sem obstáculos postos pela diferença, é não sair de si mesmo ou da imobilidade identitária. Pois possuir, apropriar-se são investidas de poder possessivo que se fazem sobre coisas, nunca possíveis quando se trata do ser humano, que é resposta a mudança.
Dualidade
O princípio da dualidade convida cada um se perguntar quanto pagaria, em termos de renúncia ao conforto (físico, ético, psicológico, cultural, material, científico, lúdico, &c.), para não desfrutar do conforto que desfruta. Convida cada um a sentir-se, mediante a simulação, no extremo oposto do próprio conforto, ou no extremo desconforto, para poder reconhecer o valor de sua situação confortável. Trata-se de um exercício de simulação a que o ser humano se entrega a toda hora, sem que nem sempre se dê conta.
Odisseu tem diante de si, na ilha de Ogigia, como pólo alternativo à sua humanidade a imortalidade, que lhe é oferecida pela deusa Calipso, a humanidade na qual se reconhece e preza nas pessoas às quais respeita, ama ou teme, é respeitado, amado e temido. A imortalidade tanto o livraria do desconforto do Hades –o «purgatório» da mitologia grega, no qual os mortos já não podem comprazer-se na admiração e respeito que lhes devotavam os vivos pelos seus feitos– quanto o instalaria no desconforto de se encontrar numa situação em que os vivos estão ausentes. Na outra opção, a condição mortal do ser humano tanto oferece-lhe o conforto de poder desfrutar da admiração e do respeito dos vivos quanto o mantém no desconforto da renúncia à imortalidade.
A pessoa que é médico e tenista, e que gosta tanto do tênis quanto da medicina, pode sentir-se confortável ou desconfortável como médico enquanto joga tênis e confortável ou desconfortável como tenista enquanto pratica a medicina. Pode ocorrer que aquilo que lhe é desconfortável num contexto é-lhe confortável em outro contexto –daí a pertinência da aplicação do princípio da dualidade no contexto da pessoa e de seu papel: ao integrar de modo solidário os contextos conflitantes de seus papéis, a pessoa saberá valorizar ainda mais a experiência do conforto, rejeitando o desconforto, no desempenho do papel de tenista e no desempenho do papel de médico.
Quem depende de uma ferramenta e não a tem ao alcance da mão encontra-se numa situação desconfortável, razão por que buscará o conforto num seu equivalente. Quem desejava escalar a montanha e quebrou a perna encontra-se desconfortável como alpinista, e buscará o conforto em outro tipo de desafio. Encontra-se no desconforto de não ter realizado o sonho com que havia sonhado, e busca o conforto na realização de outro sonho. A idéia que o princípio da dualidade introduz é que de seu exercício resulta uma avaliação mais adequada tanto da situação de desconforto, da qual se quer livrar, quanto da de conforto, da qual se quer desfrutar.
Cada um sente-se livre na ação; antes de exercê-la submete-se, simulando-a, às variações das situações que o obrigam de modo equivalente à dependência das regras que lhes correspondem e às quais se sujeita em liberdade, assim como se aceitam as regras do jogo que se vai jogar. Ao simular as equivalências, antes de decidir cada um está buscando responder a indagações do tipo: O que não me agrada de modo algum? O que mais me agrada ao deixar prender-me? O que mais me desagrada ao deixar prender-me? A que sujeição não estou disposto a entregar-me? A que sujeição estou disposto a entregar-me? De que dependência não consigo livrar-me? A que dependência quero entregar-me? Com certeza, Odisseu exercitou-se no princípio da dualidade, antes de se decidir por retornar como herói da guerra de Tróia à sua Penélope, que ansiava pela sua volta, e ao seu trono como rei da ilha de Ítaca. Movia-o, sem dúvida, a vaidade, em meio ao reconhecimento de sua própria humanidade.
O jogo amoroso do entreolhar ilustra o princípio da dualidade. No jogo entre amantes, o desejo ou o olhar de um exerce-se sobre o olhar do outro (o «objeto» visto) como manifestação de um desejo de submeter, que é o de convertê-lo em objeto (posse), e ao mesmo tempo como manifestação de um desejo de se submeter, que é o de se converter em objeto (posse) do amado. Trata-se de um problema cuja solução não é de caráter linear, e sim auto-recorrente: o desejo de quem é desejado retorna sobre o primeiro como recusa em se deixar prender no ato da entrega. Na interação entre ambos instaura-se a dualidade, segundo a qual cada um é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto de si mesmo e sujeito e objeto do outro. Aqui não há nem pode haver relação de identidade lógica entre um e outro, entre o primus e o seu dual. O outro, ou o dual do primus, não se deixará absorver naquilo que o caracteriza como diferença: a sua recusa em se deixar fixar como objeto visto, a sua estranheza indomesticável, que suplanta, na sua alteridade, qualquer tentativa de prendê-lo na identidade do mesmo. A presença do outro no espaço do eu não se confunde nem se deixa confundir com o eu, mas o ultrapassa ou o excede para instalar-se no infinito ou no jogo exponencial dos duais. Ocorre diferentemente na lógica da identidade, que reduz o absolutamente outro ao eu, o objeto ao sujeito, a diversidade à uniformidade.
A cada primus corresponde mais de um dual e vice-versa. Quantos? Tantos quantos sejam os contextos nos quais se consiga enxergá-los. A cada dual, convertido por sua vez em primus, corresponde outro dual, e assim ao infinito, não se podendo deixar de admitir, no jogo estonteante dos duais, que um ou muitos deles venham a jogar o papel de contrário do contrário, tornando-se o desejável do primus. É o caso de Odisseu preso ao mastro da nau: seus duais são as sereias e Penélope, todas objetos conflitantes de seu desejo, sendo que o desconforto que pressente na sua entrega às sereias corresponde ao conforto que pressente na sua entrega a Penélope. As sereias, que são um de seus duais, convertem-se no dual do dual de seu desejo –ou no seu primus– de se entregar a Penélope. No convívio humano, o dual mais flagrante dá-se entre a dimensão masculina e a dimensão feminina da existência.
O que esperamos do contexto não é necessariamente o que o contexto nos dá. É preciso avaliar, sempre que possível, todos os duais para reconhecer o esforço de se obter o que não se tem pelo prazer de obtê-lo. O benefício do princípio da dualidade é despertar formas criativas de se enxergar melhor o contexto, algo dispensável na visão da objetividade impessoal, que teria antecipadamente o contexto preso na gaiola de seu modelo.
Tome-se, por exemplo, uma instituição dotada de uma estrutura supostamente fixa e os valores correspondentes que se reconhecem nela. Enxergar o que se paga por não tê-la –verificando-se os possíveis duais desse primus, um tipo de estrutura diferente para o reconhecimento desses mesmos valores– é perceber que existem com certeza outras estruturas adequadas para satisfazer aos requisitos do contexto. Ou seja: a aplicação do princípio da dualidade faz enxergar melhor a conveniência de se livrar das dependências, ao mesmo tempo que exponencia o número de opções. Isso é o que vem a ser a prática da liberdade contextual. Como exemplo de figura obsessiva no exercício do princípio da dualidade tem-se o grego Diógenes, cuja filosofia exaltava a remoção das dependências. Vivia praticamente nu, levando consigo apenas uma caneca de beber água presa a um cinto que trazia na cintura. Um dia, ao observar uma criança bebendo água no côncavo das mãos, atirou a caneca fora, dizendo: «Que necessidade tenho eu disto?».
O risco maior é aquele oferecido por uma situação da qual não haveria saída. Nesse caso, estaríamos presos à abstração que construímos, diante de um «sim» x «não» inelutáveis. Como resultado do exercício do princípio da dualidade, aprendemos a abandonar a arrogância quixotesca, que nos subjuga ao «custe o que custar». O «custe o que custar» corresponde à ideologia do herói tragicômico ou trágico, aquele que afronta obsessivamente a realidade, em vez de se entregar ao exercício de melhor enxergá-la (diferentemente) para dela tirar proveito. Nada se pode contra a realidade; o que se pode é explorar as possibilidades que ela oferece, para escolher a mais prazerosa ao custo do risco menor: eis o problema.
Escatologias, como o progresso automático e o comunismo, que sacrificam o presente em nome do futuro, quebram a cara por identificarem o plano da abstração com o plano da realidade. Ao atribuírem à realidade –o contexto humano– propriedades intrínsecas, supostamente irremovíveis, tais como a racionalidade isoladamente, ou a lógica da totalidade dialética –submetem a realidade à abstração; sendo as exigências desta de caráter dicotômico (sim ou não), produzem, na exclusão, violência física ou institucional, ou ambas ao mesmo tempo. Não se pode atribuir caráter de necessidade ao curso dos eventos ou da história, uma vez que resultam da interação entre processos, cujos efeitos colaterais são imprevisíveis. É certo que a patologia da acumulação do capital não vencerá, porque converte o ser humano em coisa, enquanto a referência última do contexto humano é um valor, o desejo de se comprazer na existência.
Se não se considera o princípio da dualidade, os princípios da inclusão, do reconhecimento e da co-evolução, além de outros, são prejudicados. O exercício da dualidade contribui para que os demais possam operar com melhor qualidade e robustez, afirma Gattaz Sobrinho.
Reconstrução
O princípio da reconstrução brota do desejo de se enxergar melhor a diferença entre a abstração e a realidade, mediante a reintegração das partes no todo de que são partes. A exemplo de todos os demais princípios, ele orienta na busca do conforto de se estar sempre pronto a responder aos estímulos do meio em sincronia com a onda da mudança, dela tirando proveito, como o faz o surfista em relação ao movimento das ondas do mar. No exercício da abstração ou da racionalidade, isoladamente, não se tem acesso diretamente a ninguém nem às coisas, senão mediante às suas «partes». Assim, quando se põe a planejar a cidade, o urbanista a concebe como um conjunto constituído de «partes», elementos físicos, biológicos e culturais, que são estudados separadamente como fluxos de energia, de materiais e de informação. Estuda a densidade populacional, a diversidade cultural e social, os tipos de atividades, tais como indústria, comércio, serviços, &c.; o transporte coletivo e o transporte individual, o sistema viário, os equipamentos de lazer, as áreas verdes, &c. São as «partes» do ecossistema urbano –as suas abstrações. O princípio da reconstrução presta-se a lembrar que, não sendo possível lidar com o problema senão mediante a sua divisão em subproblemas, não se pode deixar de estar atento à referência do contexto que os integra, como frações que interagem no contexto. Nada existe de forma isolada. Fragmentar a realidade sem ter em mente a interdependência das frações é tomar a árvore pela floresta.
Pode quebrar-se o problema de mais de uma maneira. Assim, por exemplo, para o agricultor que cultiva o trigo interessam, em primeiro lugar, o teor de germinação da semente, a fertilidade do solo e seu preparo, o clima, a água, a temperatura, o estado de conservação do trator, dos equipamentos de aração, de semeadura e de colheita, de seu preço no mercado, &c. Para aquele que o industrializa interessam o seu preço, a qualidade do grão, o seu teor de glúten e de amido, a sua umidade, a sua conservação, a adequação de seu uso como farinha nos diversos mercados nos quais opera, &c. Para o padeiro interessa a adequação da farinha aos usos que faz dela, como pão, bolos, massas e tortas; busca na farinha atributos de plasticidade, pureza, umidade adequada, facilidade de processamento, bom estado de conservação, bom aspecto visual, &c. Para o consumidor, interessam produtos farináceos de qualidade, esta definida em termos de nutrição, paladar, textura, consistência, aspecto visual e táctil, conservação, &c.
Cada um dos usuários do trigo busca nele encontrar a sua adequação ao contexto no qual dele se serve, a referência que lhe convém, uma referência necessariamente diversa, porém unitária no valor grão, que é o mesmo. O trigo somente pode ser estudado no seu contexto; e seu contexto é diverso, o que transfere a exigência de sua referência unitária para a integração dos contextos.
Assim, o pesquisador do trigo –em geral uma equipe de especialistas– deverá estar atento às diversas referências dos diversos contextos de todos os tipos de usuários, quando pesquisa a genética do grão, a sua fisiologia, a sua sanidade (resistência a pragas e doenças), a arquitetura da planta, a sua adaptação às diversas regiões do país, em termos de solo, água, temperatura, comprimento do dia, altitude, umidade do ar, velocidade do vento, produtividade, ciclo da cultura, época de plantio, qualidade protéica e calórica do grão, rusticidade, baixa exigência de insumos, facilidade de colheita, adequação da farinha a seus diversos usos, na panificação, na indústria de massas, de biscoitos, de cola, de ração, &c.
A divisão em subproblemas não pára aí: pode pensar-se também na formação acadêmica do pesquisador; na grade curricular; no paradigma científico que preside à genética, à agronomia, à biotecnologia; ao seu grau de inserção no contexto nacional e internacional dos usos e do mercado do trigo; à grade cultural, ou seja, a inserção do consumo de trigo no contexto dos hábitos alimentares, o consumo dos farináceos sucedâneos, como o milho e a mandioca, as suas diferenças e as suas equivalências; a diferença nos expoentes de prestígio e status entre a farinha integral e a farinha branca, a qualidade da alimentação, &c. Se se prosseguir na subdivisão do problema trigo, como valor humano, vai chegar-se à subdivisão do mundo cultural do alimento, das diferenças entre as tecnologias de produção do Hemisfério Norte e do Hemisfério Sul, da indústria de informática ao georeferenciamento, da indústria metal-mecânica à indústria química, de transportes, &c.; das diferenças entre latitudes tropicais, subtropicais e temperadas, enfim, da Terra como habitat humano, no qual vivem também outros seres, como os pássaros, muitos dos quais alimentam-se de grãos, e os gatos, que caçam pássaros.
Este é o princípio da reconstrução: na subdivisão do problema, é preciso considerar a um só tempo a referência do contexto da parte com que se está lidando e a referência do todo de que é parte: referências conflitantes e includentes. Ao se aplicar o princípio da reconstrução, as soluções dos subproblemas integram-se naturalmente à solução do problema maior.
Ao princípio da reconstrução opõe-se o paradigma científico e tecnológico atual, que se detém no exame analítico das partes, sem dar importância ao todo de que são partes. A fabricação de uma cadeira, por exemplo, sendo de caráter serial (descontextualidade) leva em conta o seu usuário genérico, e não o de fulano de tal. Se é ao mundo da qualidade que visamos, é preciso ter em mente que inexiste uma utilização genérica da cadeira, pois é sempre alguma pessoa que dela se serve, de modo singular. Ao se fabricarem teclados para digitação no computador, não se cuidou da ergonomia, daí resultando o problema conhecido como «ler», que pode tornar inválida uma pessoa na atividade de digitação. As linhas de montagem de produtos são adequadas à sua montagem mecânica, mas raramente à saúde do trabalhador que os monta. Deter-se nas partes, consideradas isoladamente, é não se dar conta de seu caráter necessariamente interdependente, não atentar para as suas interações e para os efeitos colaterais que daí resultam.
Ao proceder dessa maneira, coíbe-se a possibilidade de enxergar a co-evolução do problema, que é contínua como evolução do conjunto. Sendo contínua, a integração das partes deve ser espontânea, não se justificando a necessidade artificial de sua integração. Tal necessidade representa um enorme desperdício de esforço, como pode observar-se no desenvolvimento paralelo da indústria de automóvel e da indústria de informática: ambos os processos desenvolvem-se sem uma referência comum, e o resultado é que a cada vez que deseja incorporar ao automóvel um novo componente de informática, a indústria automobilística recorre à indústria de informática, que irá reconstruir, novamente, a computação a bordo do ponto de partida, para integrá-los. Observe-se que, em contraste com a ausência da visão integrada de processo nas tecnologias atuais, a mente humana integra naturalmente as partes do contexto, sem esforço algum. A não integração dos valores humanos entre os processos industriais atesta o caráter artificial de sua integração, ou seja, o seu gigantesco desperdício de inteligência. A essa irrisão a ideologia dominante empresta o nome de eficiência na evolução das tecnologias e dos processos industriais.
Autodefesa
Na linguagem corrente, entende-se defesa como agressão da defesa, ou contra-ataque. O militar prepara-se para a defesa, para inibir o ataque. Sun Tzu, o mais traduzido dos autores chineses no Ocidente em todos os tempos, em seu livro «A arte da guerra» ensina como derrotar o inimigo sem lhe dar combate, poupando-se assim armas e tropas para a batalha seguinte. A inibição ao ataque é um processo em que se está em busca da autodefesa. Não é ainda a autodefesa. Esta é a arte da paz e não a arte da guerra.
Para uma determinada pessoa, encontrar-se em estado de autodefesa é encontrar-se num estado no qual as agressões não a atingem, motivo por que não precisa preparar-se para a defesa. Um organismo sadio que se desenvolve em um ambiente sadio não precisa estar em guarda contra o bacilo da tuberculose, pois este é incapaz de atingi-lo. Encontrar-se em estado de autodefesa é ter removido a possibilidade de ser atingido na ocorrência de ataque. Na expressão de Gattaz Sobrinho, «é ganhar a guerra por não se ter a guerra». É ter saúde e educação, por exemplo, numa sociedade em que saúde e educação são precondições de inserção e participação na dimensão da cidadania. Um povo educado e sadio dificilmente corre o risco de estar sujeito a regimes políticos autocráticos, uma patologia social, ou ausência de autodefesa. Um acadêmico em estado de autodefesa, não subordinaria a solução do problema da fome e da miséria brasileiras à conquista isolada da auto-suficiência na construção de máquinas de sequenciamento automático de genomas. Essa é uma visão linear que transfere para um futuro que nunca chega a solução que nunca chega. Pois, depois das máquinas de sequenciar genomas virão outras máquinas que nos colocariam em idêntica dependência relativa.
À luz do princípio da autodefesa, nunca se está na dependência de coisas, uma vez que não se sabe o que são coisas fora de contexto; se é o contexto que define as suas propriedades, é preciso partir de sua referência, o ser humano, que não é coisa. Nesse caso, enxerga-se que a autodefesa localiza-se no habitat da inteligência (sentimento da realidade), no qual se desenvolve, removendo as condições de possibilidade de ocorrência da dependência –tecnológica, no exemplo. Existem os seus equivalentes, ao alcance da mão.
Autodefesa no caso brasileiro seria a sociedade, o governo e o Estado estarem capacitados para enxergar o seu contexto, os processos que nele ocorrem e a sua interdependência. Ver-se-ia então na referência do contexto o ser humano, capaz de resolver os problemas que cria, criando máquinas também, que são concreções tecnológicas de processos inteligentes.
Sendo a inteligência o bem mais bem repartido da Terra, não há por que atribuir a nossa desgraça à inteligência alheia: é despertar a própria, passando a reconhecer e explicitar os processos culturais, biológicos, econômicos, tecnológicos, &c., que, sendo singulares no contexto brasileiro, somente encontram solução –condições de co-evoluir– na singularidade de sua própria referência. Se continuamos dependentes tecnologicamente do exterior é porque não avançamos em direção ao estado de autodefesa. Autodefesa não significa auto-suficiência, ou xenofobia no contexto cultural e político. Os processos são ao mesmo tempo autônomos e paralelos: a sua interdependência dá-se na integração dos contextos nos quais interagem, sem subordinação de um contexto a outro, subordinação artificial que caracteriza o estado patológico da dependência.
Reconhecer a necessidade de se reconstruir o habitat da inteligência é já reconstruí-lo: a solução encontra-se no mesmo espaço do problema. Enxergar o futuro é dar-se conta de que já disponho das condições de realizá-lo, e isso livra-me de ser escravo de coisas e de mim mesmo, como um estado de coisas irremovível em razão do peso acabrunhante de coisas sobre mim. Aplique-se no contexto desta reflexão o princípio da dualidade, e se verá que o que se apresenta como desvantagem converte-se em vantagem. O «atraso tecnológico» do mateiro, que conhece intuitivamente a floresta, é solução para o «atraso tecnológico» do engenheiro florestal, que ignora as interações nos processos da biodiversidade. A diversidade cultural brasileira, que a escola não conseguiu erradicar, a despeito da uniformização que promove, emerge como um recurso de valor inestimável. «A arte da paz consiste em fazer com que eu seja todos os outros, removendo a possibilidade da ocorrência de eventos que tornem necessária a defesa», conclui Gattaz Sobrinho.
Mudança
A coisa, como definida pela lógica gramatical, existe somente no plano da abstração. O que existe na realidade é mudança. Uma nota musical é para mim que a ouço um estado de mudança na vibração das cordas do instrumento musical. A sensação de fome é resultado de um estado de mudança do organismo, e a sua saciedade corresponde a outro estado de mudança. A cada momento, não se é mais o que se era e ainda não se é o que se vai ser. O que se percebe é a mudança –a diferença–, pois o objeto da percepção em si mesmo é mudança.
Quando não se enxerga a mudança, no plano da realidade, é porque se está enxergando em seu lugar a coisa, no plano da abstração. Confunde-se o leão de papel com o leão de verdade. É nesse sentido que Mao Zedong, apoiado na sabedoria oriental, referia-se ao «imperialismo» como um «tigre de papel». A coisa, fixa e inerte na sua imobilidade, emerge do caos como obstáculo à mudança, opondo-se à co-evolução, ou à percepção da mudança do contexto. Ocorre a mudança quando há o reconhecimento de um outro contexto. É dizer também que para que ela ocorra não é necessário o transcurso do tempo linear objetivo: o exemplo anteriormente citado da mudança da sala de trabalho para sala de visita patenteia uma mudança de contexto sem transcurso do tempo linear como seu veículo.
Insisto na distinção entre as noções de coisa e de mudança. As coisas não são integráveis; para serem integráveis precisam de um terceiro que as integre. Se a base de apoio da caixa do aparelho de TV assenta sobre o tampo da estante é porque ambas foram construídas tendo-se como referência de sua integração o seu usuário, o ser humano, que é o ponto de indução da mudança. A objetividade impessoal da ciência não é capaz de integrar Jorge e seus papéis: trata-os isoladamente, um a um, separados de sua pessoa –a isso dá-se o nome de função, cujo papel, na suposta integração que promove, é gerar caos.
Enunciar o princípio da mudança é dizer que tudo é contextual. A esse princípio opõem-se a lógica e a sintaxe, que são conjuntos de regras válidas em situações livres de contexto, ou seja, inexistentes na vida real. As abstrações da lógica não mudam, porque ligam proposições a proposições, e não estados de mudança a estados de mudança. Já uma cabeça, mesmo a de um lógico, em contágio com outra cabeça co-evolui, porque de sua interação resulta um novo estado de mudança, uma nova idéia.
Integração com energia zero
No sentido corrente do termo, integrar significa criar um sistema de controle sobre a realidade. Integram-se nesse sentido os fluxos de entrada e de saída de uma caixa de água, mediante a instalação de válvulas e sensores. Cria-se assim uma abstração que seduz e, por isso, passa a ser vista como mais real do que a própria realidade.
A idéia de controle e de regulação é retirada da observação do comportamento da natureza. A atmosfera controla a concentração de oxigênio, para que seja constante; assim mantêm-se constantes a temperatura da Terra e a composição da água dos oceanos. Tais sistemas mantêm-se regulados, sob autocontrole, ao influxo permanente de suas interações com o meio, com o qual trocam energia, matéria e informação. Diferentemente, a integração artificial, visada no intento de se controlar a realidade, isola o sistema do meio, ao interferir artificialmente nos mecanismos de retroalimentação, pondo de lado efeitos colaterais imprevistos. O controle da retroalimentação tem por objetivo isolar o ruído e reiterar a redundância, como ocorre nos sistemas digitais de telecomunicações. A precondição para que isso ocorra é que se tenha controle na entrada e na saída do sistema. Conhecem-se de antemão as suas regras de operação, e estas são de caráter unívoco: «Se isto, então aquilo». Labora-se, pois, no plano da abstração.
Algo muito diferente ocorre no plano da realidade. Neste, felizmente, não se tem controle sobre a geração de efeitos colaterais que incidem no ambiente, incidência que torna possível enxergar-se a mudança, como condição para se estar em sincronia (conforto) com ela. Aglomeração de nuvens escuras no céu, que eu não controlo, levam-me a me prevenir dos efeitos da chuva, recorrendo ao guarda-chuva. A interação livre de minhas idéias na mente faz emergir nela uma nova idéia, um efeito colateral que, ao incidir no contexto do problema no qual estava trabalhando, permite-me divisar a solução. A interação dos processos urbanos, que ninguém controla isoladamente, dá origem ao urbanismo, a arte de se organizar a cidade para nela se viver com prazer. A interação da informática, da agronomia e do georeferenciamento, processos cuja interação ninguém controla, dá origem à agricultura de precisão, muito mais eficiente na redução da agressão ambiental, no aumento da produção e da produtividade. Pretender controlar a realidade é estar equivocado, ao confundi-la com a abstração.
No plano da realidade, não se requer esforço de integração. Esta ocorre com dispêndio zero de energia. Quando tenho a referência de meu contexto, tudo nele está naturalmente integrado. Tomo como exemplo o contexto de meu trabalho: nele integram-se espontaneamente a folha de papel que tenho sobre a mesa, o tampo da mesa sob a folha de papel, a caneta que tenho na mão, a minha mão na caneta e sobre a folha de papel, o cafezinho que me estimula a pensar, a luminosidade filtrada pela cortina da janela, o silêncio e a estética do ambiente necessários ao conforto e à inspiração, a expectativa de conclui-lo na hora prevista, o recebimento pela prestação do serviço, o depósito do cheque em minha conta bancária, &c.
Se saio à sacada, colocando-me no contexto da paisagem que dela diviso, vejo integrarem-se harmonicamente os ramos das árvores com os pássaros que neles pousam, o transeunte que caminha ao abrigo de sua sombra, o botão de flor que desabrocha ao estímulo da primavera, o ar limpo pela chuva de ontem, o carreiro de formigas que sobe pela parede, o cão que revira a lata de lixo, o mendigo que pede uma esmola e é escorraçado da padaria, &c. Não despendo esforço algum ao integrar todos esses elementos no contexto em que estou instalado.
«É estranho pensar em uma abstração capaz de controlar a realidade. O que ocorre, na verdade, é o inverso: a realidade é que estabelece o controle propriedades intrínsecas, são indiscerníveis: são portanto uma, e não duas. É o que se observa no mundo da quantidade; da soma de vetores que, por serem homogêneos, não têm identidade real, como os sujeitos portadores de qualidades; estas, por definição, são irredutíveis umas às outras. O mesmo pau-brasil é qualitativamente distinto quando se consideram o valor de suas propriedades corantes na indústria têxtil e o seu valor como madeira de lei na indústria do mobiliário. São valores que se reconhecem na unidade do contexto humano, em interação do ser humano com o meio. Um valor não se confunde com o outro nem se deixa reduzir ao outro. Claude Bernard, na biologia e medicina experimentais, pôde eleger a quantidade como seu valor normativo, porque suprimiu ipso facto a singularidade dos organismos, a sua qualidade diferencial, convertendo-os em abstração, espécie de noite da reflexão na qual todos os gatos são pardos. A idéia da estatística provavelmente tenha ocorrido a seu criador numa dessas noites, nas quais divisou também incrustados naturalmente na realidade as classificações, as hierarquias, os padrões, as estruturas e as funções.
As diferenças entre um toco de giz e um pedaço de queijo podem ser infinitas: não estão inscritas no giz nem no queijo, à espera de que o ser humano venha descobri-las. Dizer que um serve para comer e outro para escrever é criar na interação com eles uma das inúmeras diferenças virtuais que poderiam ser enxergadas entre um e outro, em outros contextos. É a nossa faculdade de criá-las em contextos diferentes que lhes confere uma «identidade» contextual, inexistente ou inapreensível na ausência do ser humano que as cria. As diferenças dão-se assim quando da inserção das coisas em outros contextos –e são as infinitas possibilidades de se integrarem em outros contextos que delas removem a sua «identidade» supostamente intrínseca. A possibilidade de enxergá-las como modos de existir, ou comportamentos, é o que faz do ser humano uma unidade.
Com o conceito de unidade (diversidade de modos de o ser humano comportar-se em contexto na sua interação com o meio), remove-se a ilusão da existência de substâncias. A crença em substâncias é um requisito lógico ou gramatical –não mais que isso. Cremos na própria identidade por uma exigência gramatical. Sendo assim, seria mais adequado, como sugere Espinosa, que se trate a «mente» e o «corpo» como adjetivos ou advérbios de modo, adjetivamente ou atributivamente, em vez de tratá-los como substantivos ou substantivamente. Em vez de pensar que tais palavras se referem a substâncias ou coisas, podemos pensar que se referem a uma unidade que se comporta segundo diferentes modos. Não haveria, segundo Espinosa, coisas e pessoas que amem ou conheçam. O que há são modos de amar e de conhecer. A possibilidade de enxergá-los ou senti-los é que faz do ser humano uma unidade.
A unidade caracteriza e articula um modo de existência das coisas em que tudo é revogável e em que nada é definitivo. Ser isto ou ser aquilo é apenas um dos modos contextuais de existir para o sujeito que enxerga a diferença. O universo apresenta tantos modos de se comportar quantas são as nossas possibilidades de apreendê-los. Uma diferença de modo remete à possibilidade de se apreender uma outra, quando da passagem de um contexto para outro –e o que permite dar-se conta da mudança é a unidade do ser humano, que se mantém «idêntico» enquanto muda.
Ao princípio da unidade opõe-se a ciência da objetividade impessoal, ou do objeto lógico-gramatical, que separa o sujeito do objeto, criando dois mundos paralelos que se repelem na sua mútua exclusão, como se as coisas pudessem agir por conta própria ou, ao contrário, não oferecessem resistência às diferentes investidas de sua contextualização, segundo o propósito que se tem em mente. Uma tal ciência pressupõe que as coisas têm uma inteligibilidade intrínseca e são devassáveis pelo avesso.
Essa mesma ciência, em razão de sua pressuposta natureza naturalmente sintática da realidade, rejeita a diversidade na unidade (que Jorge possa ser ele mesmo ao tempo que desempenha seus papéis). A essa questão do diálogo entre a pessoa e seus papéis, ou entre os processos culturais, chamei de «teoria do mexerico», inspirado no estudo que dele fez o sociólogo francês Gabriel Tarde em seu livro «L'opinion publique et la foule» (1901). Partimos da intuição, tão antiga como a humanidade, de que o mundo à nossa volta não nos é indiferente e sim assinalado por um valor: as pessoas e as coisas despertam em nós desejo ou aversão, amor ou ódio, alegria ou tristeza. A menor das sensações não é desprovida de valor: agrada ou desagrada.
Afirmar que nada é desprovido de valor é assumir que a referência última, para se dirimir qualquer questão, é a singularidade da pessoa, fonte de todos os valores, na sua interação com o meio. Na ausência do ser humano, o mundo não tem significado algum. Isso não quer dizer, porém, que o sistema de valores tem o seu fundamento apenas na subjetividade individual. O reconhecimento da própria singularidade vem da percepção de uma diferença; é indissociável, portanto, do reconhecimento de outrem, como alteridade irredutível.
Raul Pompeia escreveu em seu livro «O Ateneu» que até para morrer o enfermo na cama busca a posição mais confortável. É o que basta para perceber que o móvel mais profundo do ser humano é o desejo –o desejo de se comprazer na existência. É o desejo que lança o ser humano para fora de si tão logo reconheça no outro, no mundo, a oportunidade de realizá-lo em si mesmo. O outro e o mundo estão assim implicados na singularidade como condição de seu auto-reconhecimento como desejo, projeto de existência. Sujeito do desejo e objeto do desejo são, pois, indissociáveis, embora distintos.
Ao longo da história da reflexão, construíram-se teorias antropológicas e morais segundo as quais a fonte do valor estaria fora do ser humano. Assim, por exemplo, Tomás de Aquino (1224-1274), teólogo dominicano, afirmou que o ser humano é naturalmente orientado para o Bem objetivo e transcendente, e é a atração exercida pelo Bem que o põe em movimento na existência, balizando moralmente a sua conduta. Segundo essa visão de mundo, o amor, considerado como o valor por excelência, consistiria em se comprazer no que é bom, segundo o Bem. O amor seria a experiência de uma afinidade natural e de uma complementaridade entre o sujeito e o objeto, a singularidade e o destino da Criação, ambos definidos previamente como portadores naturais de uma ordem imanente e transcendente criada pelo Bem, ou Deus, que os precedeu na existência para abrir e indicar o caminho da felicidade. Esta seria, portanto, uma espécie de êxtase produzido pelo acoplamento entre a chave e a fechadura, ambas desenhadas pelo artífice divino.
Uma outra visão antropológica e moral, de interesse no contexto de nossa reflexão, é a do filósofo inglês Thomas Hobbes (1588-1679). De acordo com Hobbes, o móvel fundamental da ação humana não é o prazer e sim a afirmação e a expansão do eu individual: o amor próprio e a vontade de poder. Em Hobbes, diferentemente de Tomás de Aquino, a prioridade do desejo não está voltada para um valor transcendental, nem para a realização da felicidade como um valor em si, e sim para a manutenção fisiológica do indivíduo na existência e para o aumento de seu poder sobre o mundo e sobre os outros. Hobbes confundiu, identificando, a pessoa com o indivíduo burguês. Tudo o que existe no indivíduo e fora dele não passa de meio para a realização desse egoísmo calculista. O próprio amor e o prazer são modalidades secundárias desse cálculo. Ou seja, o móvel fundamental do ser humano, em Hobbes, consiste em manter o estado de saúde dos músculos para poder eliminar os outros: um projeto inviável, porque suicida. Ciente disso, Hobbes propõe a sujeição do ser humano ao Terror, como condição de sobrevivência: todos devem submeter-se à vontade do Estado absolutista. Nessa condição de privação de liberdade poderão vegetar até que a morte os remova.
Aqui, deixamos de lado ambos os modos de pensar, em razão de seu caráter alienante, e nos detemos em Espinosa. O ser humano é senhor de seu destino: não deve sujeitar-se a nada e a ninguém, para ser manipulado, porque não é uma coisa. Para Espinosa, o bem somente é bom quando nós próprios o elegemos como bem. Deixa de ser bem quando nos é imposto de fora para dentro, ainda que na forma de sedução, impedindo-nos de enxergar o próprio caminho. Bebe-se água porque se tem sede e não por alguma outra razão que não seja a própria sede. Exaure-se no sacrifício, não porque ele leva aos Céus, mas porque é prazeroso perder-se naquilo que se deseja. A fonte do valor não está fora de nós, e sim jorra do interior da singularidade em sua interação com o meio. Ou seja, não há valor algum transcendente, superior ao valor que brota da interação do ser humano com o meio. Esse valor é necessariamente afirmativo, pois existir é comprazer-se na existência.
Assim, com Espinosa está-se longe de qualquer cálculo egoísta baseado no instinto de conservação. Existir não se reduz a conservar a existência biológica bruta. Limitar-se a garantir a circulação do sangue nas veias não implica necessariamente uma existência prazerosa. Sujeitar-se ao terror do Estado é abdicar de si mesmo. Em vez de uma vida vegetativa e calculista, Espinosa propõe que se rejeite todo tipo de alienação –de subordinação a uma ordem externa que limite ou asfixie o desejo de se comprazer na existência. Como a tentação doentia de se auto-aplicar emplastros ideológicos sufocantes é recorrente, a existência em liberdade deve converter-se num projeto vigilante de reconstrução permanente.
Ao cotejar esses modos de conceber a existência, observa-se que, se em Hobbes o desejo de um exclui o desejo de outrem («ou eu ou ele»), em Espinosa a condição de realização do desejo implica a inclusão de outrem no reconhecimento de si próprio. Antes de se projetar em direção ao mundo para realizar o seu desejo, Jorge encontra na sua interação com o meio, na forma de papéis nos quais se reconhece, o outro, pois, se é ele que os desempenha não é ele, isoladamente, quem cria a sua estereotipia. O sentimento da existência não é senão a percepção do que se passa em nós mesmos como resultado de nossa interação com o mundo. A percepção de si mesmo é a experiência de uma mudança, induzida por algum estímulo vindo do meio e apreendido mediante os sentidos. Os outros e o mundo são para nós partes constituintes da experiência de sentirmos o que estamos sentindo. Por isso, somos também os outros e o mundo. Na ausência do outro, ou do que supomos esteja fora de nós, não saberíamos o que é o desejo nem o objeto que lhe corresponde, nem como realizá-lo. Assim, assumimos que eu e os outros constituímos os nós de uma rede –a «rede do mexerico».
Sentir o que se passa conosco na interação com o mundo é experimentar uma diferença. Quanto mais diferenças reconhecemos no mundo, mais aderentes nos sentimos a ele, mais se intensifica a sensação de estarmos nele, mais se amplia o espaço interior em que o acolhemos, mais portas de acesso se abrem a nós mesmos e ao mundo. Em suma: estar aberto para o mundo e para outrem é sentir mais intensamente a si mesmo –é comprazer-se na existência. Essa complacência é necessariamente recíproca na sua interdependência. Está-se vinculado a uma rede, é-se feito dela, como um de seus nós, e se é também uma rede com seus respectivos nós (os papéis). Nela, o que se busca é desfrutar do prazer de viver, não à custa dos outros, mas graças aos outros. Os outros são como que um prolongamento de si mesmo, e o eu é um prolongamento dos outros. Quanto mais aberto cada nó da rede, no processo de interação, mais intenso é o prazer de se estar nela. Eis a diversidade na unidade.
Exponenciação
A ação de executar uma peça musical por uma orquestra constitui-se de três dimensões distintas: (1) a partitura, da qual constam assinaladas a melodia, a harmonia, os compassos e o andamento; (2) os instrumentos associados a cada executante e os executantes; e (3) a execução. Na ação de falar, ou na linguagem, têm-se (1) as regras de combinação dos elementos para a formação das mensagens (sintaxe); (2) os conteúdos ordenados da fala (semântica); e (3) o ato de falar (pragmática), ou seja, a aplicação das regras num momento determinado para a transmissão de um conteúdo. Na produção da ciência, ou de objetos científicos, têm-se (1) a sintática, ou as regras de construção desse objetos e de ligação entre si, como condição para serem considerados «corretos»; (2) o estabelecimento da correspondência entre os objetos científicos e seus «denotata» (parte da realidade a que se referem), ou semântica; e (3) a mobilização desse instrumental (1 e 2) por um usuário em um momento dado (pragmática).
A representação da realidade, que construímos para lidar com ela, é tridimensional. Têm-se (1) o eixo da atividade (função); (2) o eixo da axiomática (regras); e (3) o eixo da infra-estrutura (perfis humanos associados a máquinas). Cada um desses eixos, assim como a interação entre os três, é um processo, ou seja, é autônomo, paralelo e independente, quando considerado isoladamente. Esses eixos são ortogonais, tais como a largura, o comprimento e a altura na geometria. São interdependentes no contexto no qual interagem e do qual retiram as suas propriedades contextuais, ou o seu modo de interagir. Nenhum deles, isoladamente, é auto-suficiente. A auto-suficiência é propriedade e característica do contexto. (Observe-se que o sentido do termo «infra-estrutura» aqui utilizado não é idêntico ao seu sentido corrente, pois envolve tanto recursos materiais quanto perfis humanos).
A representação da realidade é sempre mais pobre do que a realidade, como é pobre o desenho do leão em comparação com o leão da floresta. A realidade tem infinitas dimensões, mas, sendo limitada a nossa capacidade de enxergá-las, lidamos, na sua representação, com três dimensões apenas.
No projeto de construção de uma casa têm-se (1) a planta feita pelo arquiteto e as regras de uso dos materiais e de sua qualificação, tais como resistência, aderência, impermeabilidade, &c.; (2) a atividade de construí-la; e (3) a infra-estrutura da ação de construí-la (os pedreiros e os instrumentos de trabalho).
Referi-me acima ao fato de que os eixos da representação da realidade são independentes, paralelos e autônomos. Assim, um outro arquiteto pode interessar-se pela planta da casa feita por seu colega, sem ter de construí-la no mesmo local, utilizando os mesmos materiais e recorrendo aos mesmos pedreiros com seus respectivos instrumentos de trabalho. Da mesma forma, podem-se convocar os pedreiros para construir uma outra casa, sem a necessidade de construí-la de acordo com a mesma planta e de acordo com as mesmas regras relativas à qualidade do material utilizadas na primeira casa.
Ao assumir esse modelo de representação tridimensional da realidade, está-se dizendo que o contexto não é linear, mas exponencial. Na matemática, aprende-se que exponencial é x elevado a y. Na representação tridimensional, qualquer elemento novo, em qualquer dos eixos, é base de exponenciação para o que não se reconhece ainda. A referência (regras) do contexto é uma base cuja atividade é um expoente. Tem-se assim uma exponenciação tridimensional (regras, atividade, infra-estrutura). O valor humano expresso na planta do arquiteto é exponencial para o valor expresso na planta de outro arquiteto que nela se inspirou; ou é exponencial para os pedreiros que irão construir uma nova casa; da mesma forma como o valor humano dos pedreiros na construção da primeira casa é exponencial para o valor da planta na cabeça do arquiteto ou para a construção de uma nova casa pelos pedreiros; e assim por diante. Um mesmo valor pode ser exponencial para outros dois.
Um problema deve ser visto nas suas três dimensões; cada dimensão pode assumir, independentemente das demais, o lugar da ênfase, o «lado» do problema em questão, dependendo do contexto. Considere o leitor o seguinte: em vez de tomarmos a construção da casa, nas suas três dimensões, como mostrado acima, pode assumir-se cada dimensão como um processo que se representa em três dimensões, por sua vez. Tome-se o caso do processo, ou valor, «planta da casa». Na elaboração da planta da casa, têm-se (1) as regras que presidem à disciplina da arquitetura, as regras dos materiais, as regras de quem encomendou a construção da casa para nela morar; (2) a infra-estrutura para a produção da planta (o arquiteto e seus instrumentos de trabalho); e (3) a atividade de elaborar a planta. No contexto da produção da infra-estrutura da planta, ocorre a mesma coisa: a geração de recursos, ou de estados de mudança nos recursos será a sua respectiva atividade, que terá, por sua vez, a sua respectiva infra-estrutura e suas regras. No contexto da geração das regras, como parte da ação de se produzir novas disposições legais e técnicas para o valor humano habitação, por exemplo, procede-se do mesmo modo.
Chama-se atenção aqui para o caráter tridimensional da representação, pois em geral costuma-se atribuir uma única dimensão à ação –a atividade (ou função), deixando-se de explicitar que a atividade ocorre segundo regras determinadas e de acordo com perfis humanos determinados associados a materiais determinados para exercê-la. A idéia aqui é chamar atenção para o caráter contextual, para o «aqui e agora» da representação tridimensional.
Na vida real, o entrelaçamento dos eixos é complexo, como se mostrou no exemplo da casa. Assim como ocorre na comunicação, quando se retém do que se ouve o que se deseja e não necessariamente o que o outro gostaria de ter comunicado, na exponenciação tridimensional não é possível saber antecipadamente se um eixo será base ou se será expoente em outro contexto. Ao ouvir uma música, o ouvinte compositor pode prender-se à sua melodia, ao seu andamento, à sua harmonia, à sua temática, à sua execução, aos instrumentos musicais, ao ambiente em que é executada, para exponenciar uma dessas dimensões em uma nova composição, sem que se possa prever previamente qual delas escolherá.
É a uma realidade assim representada que se aplica o princípio da exponenciação. Trata-se da multiplicação da multiplicação da multiplicação em três dimensões diferentes. Uma é base para outra, que é base para outra, que é... Compreende-se, então, que a realidade comporta-se de infinitos modos para um sujeito que quer contá-los. Por isso, ele abstrai, ou delimita o seu problema, o seu contexto, a partir de um determinado ponto da realidade. Esse ponto é a realidade, mas existem outros. Não é toda a realidade, mas é também toda a realidade nele virtualmente compreendida e acessível mediante saltos exponenciais. Uma diferença que se enxergue, no contexto em que se está, corresponde a um efeito colateral que incide no meio, para mudá-lo, ou seja, para que ocorra uma mudança de estado no problema, mediante a visualização de sua solução, que é o novo estado de mudança, agora assumido como problema novamente, e assim indefinidamente. A solução, apoiada em soluções anteriores ou contextuais eqüivalentes, jamais é completa: é uma porta aberta, ou um corredor, para a sua exponenciação. A exemplo de uma pedra atirada no lago, a solução estende-se como ondas em direção a todos os pontos da realidade. Reconhecê-los é enxergar a diferença, ou a incidência do efeito colateral no contexto do problema. É delimitar as fronteiras do problema.
Todos os princípios geram um processo de exponenciação, observa Gattaz Sobrinho. Assim, «na inclusão, busca-se enxergar o efeito de uma visão da realidade com respeito a outras visões no espaço contextual em que se está enxergando. O efeito é exponencial: têm-se tantos contextos quantos se conseguem enxergar. Os princípios servem para se enxergar novos contextos; riscos, desperdícios, e estimular a criatividade, ou o desejo de se comprazer na existência. Aplicar um princípio significa multiplicar as possibilidades de se enxergar diferentemente a partir de cada um dos outros princípios. Estes são exponenciais».
Essas reflexões remetem-nos a Georges Bataille, à sua ênfase no caráter qualitativo da existência. Na última página de seu livro «A parte maldita», Bataille lembra-nos que a dimensão da qualidade, não sendo uma coisa, é exponencial. Não estaciona em patamar algum. Os seres que nós somos, escreve, não estão dados de uma vez por todas: surgem propostos a um crescimento. Para além do plano da simples subsistência, fazemos do crescimento a finalidade da existência, a sua razão de ser. «Mas, nessa subordinação ao crescimento, a existência perde a sua autonomia, subordinando-se ao que será no futuro, por este acenar com a oferta de mais recursos à disposição».
A idéia da perda de autonomia associada à expectativa de mais recursos é o tema da alegoria de Jorge Luis Borges, em «O espantoso redentor Lazarus Morell», ao qual me referi na Parte I. A garantia para que não ocorra a perda de autonomia está em não se considerar tais recursos como coisas, que nos prenderiam assim como nos prende o futuro. «Essa, porém, é precisamente a passagem difícil. Com efeito, a consciência a isso se opõe, no sentido de que ela busca apreender algum objeto, alguma coisa...» Uma abstração, dizemos nós, com ele. «A questão é chegar ao momento em que a consciência deixará de ser consciência de alguma coisa. Em outros termos, adquirir consciência do sentido decisivo de um instante em que o crescimento (a aquisição de alguma coisa) se resolverá em despesa (entrega, no contexto de sua reflexão; observação minha) é exatamente a consciência de si, ou seja, uma consciência que não tem mais nada como objeto».
Eis o sentimento de incompletude: lançar-se ao encontro de si mesmo, ao que já se é, para ser mais si mesmo, num arrebatamento em direção ao infinito, perante o qual a existência teria «encalhado», na expressão de Nietzsche (cf. seu último aforismo de seu livro «Aurora»):
«Todas estas ousadas aves que voam para longas distâncias, parta as mais longas distâncias –virá um momento em que não poderão ir mais longe e irão empoleirar-se sobre um mastro ou sobre um miserável recife– ainda assim reconhecidas por terem encontrado esse miserável refúgio! Mas quem terá o direito de concluir daí que diante delas não se abre uma imensa via livre e que voaram para tão longe quanto é possível voar? Todos os nossos grandes mestres e predecessores acabaram por parar, e o gesto da fadiga que pára não é nem o mais nobre nem o mais gracioso: a mim como a ti também isso ocorrerá! Mas que me importa e que te importa! Outras aves voarão mais longe! Esta idéia, esta fé que é a nossa, voa com elas ao desafio para as longínquas distâncias e as grandes alturas, sobe a golpes de asa acima da nossa cabeça e da sua impotência, em direção ao céu, donde olha ao longe e prevê os vôos de aves muito mais poderosas do que nós que se lançarão na direção em que nos lançamos, aí onde tudo é ainda mar, mar, mar! E aonde queremos então ir? Queremos ultrapassar o mar? Aonde nos arrasta esse poderoso desejo que para nós conta mais do que qualquer alegria? (...)». (A grafia em itálico é da iniciativa de Nietzsche).
Apêndice
Eis algumas idéias desenvolvidas por Alain Touraine, em seu livro «Igualdade e diversidade – o sujeito democrático», norteadoras da elaboração de uma Política do Sujeito.
A idéia de sociedade: O que definiu a modernidade foi a separação entre a ordem supostamente objetiva do mundo e a consciência humana; entre a racionalização, como modalidade de ação sobre a natureza, e o individualismo moral. Com a secularização do mundo, a ordem social é produzida e submetida a uma ordem superior, a racionalização e o individualismo moral. A sociedade e o seu interesse tornaram-se assim o próprio princípio de avaliação moral dos comportamentos. Esse modelo de sociedade produz indivíduos semelhantes, mas desiguais. O modelo está, portanto, em frontal oposição ao modelo que associa igualdade e diferença. O aceno à igualdade de direito choca-se contra a desigualdade de fato. Daí o apelo ideológico a uma força histórica ou transcendente que cuidaria de cimentar a confiança numa evolução histórica natural. A idéia é que quanto mais moderna, mais rapidamente a sociedade muda e mais elimina as barreiras e distâncias sociais herdadas do passado. Quanto mais apela à razão, menos suporta o apelo da tradição e a manutenção do privilégio.
A democracia revolucionária: A democracia, no início de sua história moderna, foi fundada como esperança num futuro melhor. Democracia e revolução conformavam um conjunto inseparável de reformas por meio das quais seriam eliminados os obstáculos à entrada numa sociedade moderna, racionalmente organizada, zelosa na defesa dos interesses de todos e socialmente justa (cf. Wallerstein, I. 2002). Em muitos lugares, movimentos revolucionários transformaram-se, depois da tomada do poder, em regimes autoritários. Ainda assim, a cultura política associa democracia com esperança. A idéia de «povo», de Rousseau, remete a um só tempo à vontade da maioria e às forças produtivas, trabalhadores e cidadãos. A confiança na evolução histórica conduziu ao triunfo de uma política voluntarista, criadora de uma sociedade política poderosa, que mantém em estado de dependência uma sociedade civil na qual a desigualdade retorna constantemente. Ao operar por maioria, essa política democrática age por eliminação, e não por meio do debate e do compromisso. Surgem tensões e rupturas sociais profundas. A idéia democrática tende então a se tornar revolucionária. No início do século XXI, afastamo-nos de uma concepção revolucionária da democracia, mas corremos o risco de esquecer que os movimentos democráticos sempre enfrentam a resistência de uma ordem que protege uma dominação social. Quanto mais um poder político domina um movimento social, tanto menos oportunidades existem de se criar uma sociedade democrática. Prevalece a tendência para o surgimento de um poder absoluto que se declara o único capaz de estabelecer o reino da igualdade.
A democracia liberal: A democracia revolucionária, por causa de sua estreita associação com a concepção evolucionista e voluntarista da modernidade, somente pode definir-se em oposição à democracia liberal. Enquanto a primeira impõe uma vontade política a uma ordem social, a segunda reduz o mais possível as intervenções do poder político e favorece a regulação social pela negociação direta e pelo mercado. O declínio da visão progressista da história e da ação revolucionária imprimiu uma importância central a esse liberalismo cujos efeitos são tão negativos para a idéia dos direitos civis e sociais como o foram os efeitos da violência revolucionária. A concepção liberal, no entanto, carrega consigo os mesmos princípios da concepção revolucionária, no que diz respeito a seu aceno a esperanças históricas (cf. Wallerstein, ibidem).
A democracia social e cultural: Estão esgotados os projetos revolucionário e liberal. O poder político associado ao capital dá origem à oligarquia. Um regime assim privado de princípios igualitários (no reconhecimento das diferenças) dá origem à formação de um contra-sistema político, freqüentemente autoritário. As barreiras sociais já não são suficientemente altas para manter o povo afastado do jogo da oligarquia.
Das políticas do progresso a uma política dos atores: Com a crise de confiança no progresso, as soluções liberais e revolucionárias perderam seu principal fundamento, e a idéia democrática começa a se nutrir cada vez mais da defesa de identidades pessoais e coletivas, num mundo dominado pelos mercados e pela uniformidade.
A política, acima e no centro do Social: Os atores sociais prevalecentes estão ameaçados menos por uma classe dominante do que pelo funcionamento impessoal do mercado ou, inversamente, pelo poder mobilizador dos dirigentes comunitários. Trata-se de proteger as liberdades e a segurança pessoais e, acima de tudo, o direito de cada um conservar ou adquirir controle sobre a própria existência. Ao mesmo tempo, falecem as filosofias da esperança e com elas assiste-se ao enfraquecimento acelerado das normas, das formas de organização social consideradas como racionais, que pretendem impor seu estilo autoritário de gestão à diversidade.
A ruptura das sociedades: Assiste-se a um enfraquecimento da ordem social e política, em proveito (1) das relações de mercado; e (2) de identificações culturais, individuais e coletivas: um duplo movimento que conduz a uma ruptura crescente entre os dois universos, cuja ligação e separação, ao mesmo tempo, definiam a modernidade. É preciso encontrar um novo princípio de ligação entre os dois níveis, sob o risco de se perder toda forma de unidade da cultura, da sociedade e da personalidade.
Unidade e diferença: Nesse vazio social e político, as culturas com a sua diversidade somente podem ser reconstruídas pelo esforço de cada indivíduo ou grupo, para a recuperação de sua autonomia, sua capacidade de associar valores e práticas, técnicas e mercados. Para tanto, faz-se necessário convocar a Política. O essencial é reconhecer que o papel da Política é tornar possível o diálogo entre culturas. Não se trata de reconhecer o valor universal de cada cultura, mas de reconhecer em cada indivíduo o direito de combinar, de articular em sua experiência de vida pessoal e coletiva, a participação no mundo com uma identidade cultural singular. É preciso reconhecer, não apenas a inspiração universalista da cultura, mas também a vontade de individuação de cada um.
O direito à individuação: Já não é possível a existência de outros lugares de combinação de estratégias fora do próprio indivíduo, como ator que participa do mundo com o todo de sua personalidade. Nessa empreitada, não basta a racionalidade objetiva e substancial. A racionalidade agora convocada é de natureza formal e instrumental, da ordem dos meios e não mais dos fins. Não existe outra possibilidade, além da vontade e do esforço de cada ator, individual ou coletivo, para dar sentido geral ao conjunto das situações, das interações e das condutas que formam a sua existência e que, portanto, a transformam numa experiência. Nosso comportamento individual e coletivo organiza-se, pois, em torno de três princípios: a racionalidade instrumental, a afirmação identitária e comunitária e a subjetivação, que é o desejo de individuação. Somos todos iguais na medida em que procuramos construir a nossa individuação, ou seja, a nossa diferença. A eliminação de todo conteúdo concreto da categoria Homo, de toda definição universalista, deve ser completa. Já faz muito tempo que os direitos universalistas dos cidadãos aparecem-nos como insuficientes e mesmo como enganosos.
O outro: No processo de individuação, ou na afirmação da diferença, existe o risco de se construírem identidades pessoais ou coletivas fechadas, em posição defensiva. O recurso ao sujeito pessoal, suporte de um conteúdo social concreto, pode tornar-se um princípio de individuação democrática da vida social e também um princípio de formação de uma ação coletiva. O primeiro passo é os indivíduos se reconhecerem mutuamente como sujeitos. O indivíduo somente pode reconhecer-se como autônomo por meio do reconhecimento do outro. O reconhecimento do outro não se limita a uma relação interpessoal; pressupõe condições institucionais.
Do cidadão ao Sujeito pessoal: Quanto mais a sociedade se submete a um princípio superior –razão, realização do Espírito na história, livre mercado, interesse geral– mais difícil é combinar igualdade e diferença. O mercado, regulado pelo Estado, não combina espontaneamente diferença e igualdade. Uma sociedade comandada pelo mercado não apenas não contribui para reduzir a desigualdade como também homogeneiza e padroniza os comportamentos. Somente o apelo ao Sujeito pessoal, à sua liberdade para criar um projeto e um trajeto individual de vida, permite doravante ligar entre si os dois universos, sem nenhum intermediário institucional, social ou político.
A democracia contra a História: Estamos longe aqui das democracias liberais e revolucionárias. O discurso político não é mais de natureza histórica. Na atualidade, não se confia na cenoura do futuro. A ação política não está a serviço da ideologia do progresso; não visa mais a alcançar um certo estado da sociedade. O que era sucessivo torna-se simultâneo; o que era linear torna-se auto-recorrente. Ninguém está interessado em saber quando se chegará à estação final. O que interessa é o modo de viajar. O pensamento democrático, que era um pensamento do futuro, uma meta, tornou-se um meio de trazer para o presente o sonho do futuro para convertê-lo em passado.
O fim do homo Sociologicus: A idéia do sujeito pessoal e, mais ainda, a de sujeito democrático, que é seu complemento necessário, conduz ao fim do «ser social», da definição do ser humano como ser social no sentido positivista, aquele que age de acordo com o lugar e com as funções que ocupa na sociedade. A definição do homo sociologicus torna impossível a combinação da igualdade e da diversidade. Isso nada tem a ver com a exaltação do invidualismo burguês, à procura racional de seu interesse ou de seu prazer nos mercados. Tem a ver com um sentido oposto, uma vez que o sujeito pessoal define-se pela combinação de uma identidade –de todos os aspectos de uma personalidade e de uma ou mais culturas– com uma atividade instrumental, combinação que só tem como razão de ser a produção de uma vida individualizada. Tais são os elementos de análise inseparáveis: (1) uma definição estratégica e não orientada univocamente da ação social; (2) o reconhecimento de que todos os atores têm as suas particularidades psicológicas e culturais; (3) o reconhecimento, no ator individual ou coletivo, de um princípio de combinação de ambos e, enfim, (4) a redefinição da democracia como Política do Sujeito, irremovível, porém indissociável de alguma política do conceito, demissível ad nutum, à qual não compete jamais a soberania. Esta é necessariamente destituível em razão do caráter auto-recorrente da ação humana, do Sujeito contextual. Eis o seu axioma: A empreitada da realização dos sonhos estimula mudanças nos modos de sonhar e mudanças no seu repertório, embora em todos se possa divisar a inscrição de sua referência ao desejo humano de se comprazer na existência.
Bibliografia
ATLAN, H., Entre o cristal e a fumaça, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1992 [1979].
BALANDIER, G., A desordem – elogio do movimento, Rio de Janeiro, Bertrand-Brasil, 1997.
BATAILLE, G., A parte maldita, Rio de Janeiro, Imago, 1975.
BATESON, G., Mente e natureza – a unidade necessária, São Paulo, Francisco Alves, 1986 [1979].
BERTALANFFY, L., Teoria Geral dos Sistemas, Petrópolis, Vozes, 1968.
BORGES, J. L., História universal da infâmia, Rio de Janeiro, Globo, 1988.
BAUDRILLARD, J., Le miroir de la production, Paris, Casterman, 1973.
CANGUILHEM, G., Le normal et le pathologique, Paris, PUF, 1966.
CANGUILHEM, G., Ideologia e racionalidade nas ciências da vida, Lisboa, Edições 70, [1977].
CASSIN, B., Aristóteles e o logos, São Paulo, Loyola, 1999.
CASTORIADIS, C., As encruzilhadas do labirinto IV, São Paulo, Paz e Terra, 2002.
CLASTRES, P., A sociedade contra o Estado, São Paulo, Francisco Alves, 1978.
CLASTRES, P., Infortúnio do guerreiro selvagem, in Guerra, religião e poder, Lisboa, Edições 70, 1980.
CUNHA, J. A., Filosofia, São Paulo, Atual, 1997.
DEUS, J.D.(org.), A crítica da ciência, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1979.
DORFLES, G., Elogio da desarmonia, Lisboa, Edições 70, 1988 (1986).
ELIAS, N., O processo civilizador, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editores, 1993.
GATTAZ SOBRINHO, F., Processo – a máquina contextual nos negócios, Campinas (SP), Editora Mundo em Processo, 2002.
HERRMANN, F. Psicanálise da crença, Porto Alegre, Artes Médicas, 1998.
ILLICH, I., Deschoolning society, London, Penguin, 1971..
JULLIEN, F., Um sábio não tem idéia, São Paulo, Martins Fontes, 2000.
LE BLANC, G., Canguilhem et les normes, Paris, PUF, 1997.
LEVINAS, E., Totalité et infini, Paris, Kluwer Academic, 1987.
KAPLAN, A. & LASSWELL, H., Poder e sociedade, Brasília, UnB, 1979.
LEVINSON, R. & LEWONTIN, R., The dialectical Biologist, Cambridge, Harvard University Press, 1985.
MAFFESOLI, M., A transformação do político, Porto Alegre, Sulina, 1997.
MANZANO, N. T., A volta de Simão Bacamarte – anotações sobre a filosofia em Machado de Assis, São Paulo, Textonovo, 2002.
MATHERON, A., Individu et communauté chez Spinoza, Paris, Les Éditions du Minuit, 1988.
MATURANA, H., The nature of time,[www.inteco.cl/biology/
nature.htm], 2001.
MUNFORD, L., Arte e técnica, São Paulo, Martins Fontes, 1986.
NIETZSCHE, F., Aurora, Porto, Rés, 1977.
POLANYI, K., A grande transformação, Rio de Janeiro, Campus, 1980.
PRIGOGINE, I. & STENGERS, I., A nova aliança, Brasília, UnB, 1984.
RICOEUR, P., A metáfora viva, São Paulo, Edições Loyola, 2000 [1975].
SANTAYANA, G., Escepticismo y fé animal, Buenos Aires, Losada, 1952.
SCHÜLER, D., Heráclito e seus (dis)cursos, Porto Alegre, L&PM, 2000.
SCHRAMM, W., Mass communication, in George Miller, comp., Communication, Language and Meaning, New York, Basic Books, 1973.
STENGERS, I., O caso Galileu, in Elementos para uma história das ciências II – Do fim da Idade Média a Lavoiser, Michel Serres (org.), Lisboa, 1994 (1989).
TARDE, G., Les lois sociales – Esquisse d'une sociologie, Paris, Felix Alcan, 1898 [edição eletrônica, Chicoutimi, Quebec, 2002].
TARDE, G., A opinião pública, São Paulo, Martins Fontes, 2000 (1901).
TARDE, G., L'opposition universelle, Paris, Felix Alcan, 1897 [edição eletrônica, Chicoutimi, Quebec, 2002].
TOURAINE, A., Igualdade e diversidade – o sujeito democrático, São Paulo (Bauru), Edusc, 1997.
VANEIGEM, R., Traité de savoir-faire à l'usage des jeunes générations, Paris, Gallimard, 1967.
VERNANT, J.-P., Mito e pensamento entre os gregos, São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1973.
VEYNE, P., A história conceitual, in Le Goff, P. & Nora, P., História: novos problemas, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1976.
WALLERSTEIN, I., Após o liberalismo, Petrópolis, Vozes, 2002.
WHITE, L. A., O conceito de sistemas culturais, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1975.
WIENPAHL, P., Por um Spinoza radical, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1990.